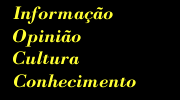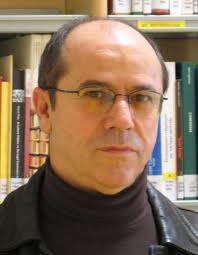|
1º de Maio de 2014: recuperar a memória, reforçar a luta social
01-05-2014 - Elísio Estanque(*)
Na fase inicial do movimento operário, os trabalhadores industriais dirigiram toda a sua agressividade contra as máquinas, as quais culpavam pelo desemprego e pela degradação das condições de vida. A assinatura de um imaginário «CaptainLudd» era a marca deixada nas paredes das fábricas de início do século XIX – após as ações de rebentamento das máquinas. Para além disso, as ações contra a extensa jornada de trabalho e pelo reconhecimento legal do direito de associação foram as principais reivindicações das TradeUnions (sindicatos) ingleses, organizados desde a década de 1830. O movimento cartista, surgido no calor da luta operária (1838), por direitos constitucionais, incluindo o sufrágio universal, marcou a primeira fase do movimento operário. Já nos finais do século, os protestos e greves de Chicago, os «Haymarketriots» de maio de 1886, as manifestações em França de 1889 e finalmente a declaração do Senado francês em 1919 (que declarou feriado o 1º de Maio) culminaram uma primeira fase de resistência da classe trabalhadora com a barbárie do “capitalismo selvagem”. Desde então até aos dias de hoje, são incontáveis as inúmeras lutas de milhões de trabalhadores do mundo inteiro contra os excessos do capitalismo, e todas essas experiências foram decisivas para as conquistas civilizacionais do mundo ocidental, cujos resultados estão à vista em todos os domínios: social, económico, tecnológico, científico, comunicacional, etc.
A história do movimento operário representa, pois, um património riquíssimo sem o qual nem as liberdades políticas, nem as democracias, nem o Estado social nem os direitos humanos nem a sociedade de consumo, nem as classes médias do Ocidente teriam existido. E isso não é uma questão menor, como qualquer capitalista – com sentido ético – reconhecerá. Como se sabe, o pensamento marxista, nomeadamente o programa político contido no Manifesto do Partido Comunista, de K. Marx e F. Engels (publicado em 1848), foi a corrente que mais influência transformadora ganhou sobre as lutas do operariado desde finais do século XIX, tendo penetrado profundamente o campo sindical ao longo de todo o século XX em todos os continentes. Porém, as principais conquistas materiais e sociopolíticas da classe trabalhadora mundial – de que o 1º de Maio é um símbolo maior –, estão longe de coincidir com os objetivos do marxismo ou de servir de “prova” de viabilidade prática do programa revolucionário proposto pela ideologia de Marx e Lenine. Os resultados das lutas sociais, em geral, raramente ou nunca coincidem com as intenções dos seus mentores. Mas, quer elas fiquem aquém, quer vão além dos objetivos enunciados, importa realçar a sua importância decisiva na transformação da sociedade, em especial num momento em que a angústia e o sentimento de derrota se abatem sobre a classe trabalhadora portuguesa e europeia.
As longas lutas laborais do movimento operário de há dois séculos, associadas aos efeitos diretos e indiretos de conflitos mundiais e da revolução bolchevique de 1917, contribuíram para que, após a II Guerra Mundial, o modelo dominante de relações laborais assentasse – em especial no Norte da Europa – em sindicatos e associações patronais fortes e centralizados, que passaram a articular a sua capacidade de atuação com a dos governos. Para tal contribuíram decisivamente as intensas lutas operárias das primeiras décadas do século XX e o próprio triunfo da Revolução Soviética. Muito embora com toda a diversidade de correntes que internamente se iam digladiando, pode dizer-se que nessa “idade de ouro”, o movimento sindical adquiriu um amplo reconhecimento e foi protagonista fundamental nos processos nacionais de promoção de bem-estar. Sem isso não teria havido Estado social europeu. Com o seu contributo foram-se definindo normas de cidadania laboral no local de trabalho e os governos desenvolveram políticas macroeconómicas favoráveis ao pleno emprego. Foi nesse contexto que o neocorporativismo se afirmou como disposição institucional de relações consensuais entre o governo e os interesses organizados e o fordismo – caracterizado por vínculos laborais estáveis, carreiras profissionais progressivas, aumento do poder de compra, estabilidade e crescimento económico, negociação e concertação social, institucionalização do sindicalismo e diálogo social “tripartido” (sindicatos, empresários e Estado) – seconfirmou como modelo de relação salarial dominante. Daí resultou a edificação do que ficaria conhecido como o modelo keynesiano na economia e pelo “Estado providência” na sociedade mais geral, onde oobjetivo do pleno emprego se conjugou com um conjunto de outros mecanismos redistributivos cujasmetas garantiram o reforço da coesão social.
O declínio desse modelo, que correspondeu ao período dos “30 anos gloriosos” (1944-1974), significou, portanto, uma progressiva degradação das condições de trabalho, colocando novas exigências sobre os orçamentos de Estado, em especial para fazer face ao aumento do desemprego que ia constantemente agravando a crise fiscal. Com o fim do velho “compromisso nacional”, assistiu-se de imediato à progressiva restrição, pela via legislativa, da influência sindical e uma maior aposta no mercado, no outsourcing e na individualização das relações laborais, que, na prática concreta das empresas (em especial no sector privado) impediu trabalhador de qualquer envolvimento no ambiente coletivo e no ativismo sindical. Ou seja, sobretudo após a crise petrolífera de 1973, a antiga perspetiva de prosperidade foi-se diluindo à medida que a vulnerabilidade das economias europeias ficava à vista. Após a chegada ao poder de M.Thatcher e R. Reagan tornou-se mais evidente a viragem de paradigma na economia mundial, abrindo espaço a uma maior aposta na flexibilização, na concorrência individual, na polivalência, no estímulo à chamada “cultura de empresa” (o modelo também conhecido por toyotismo), tendência esta que se foi acentuando à sombra da globalização e mercantilização dos mercados, das economias e da vida em geral. Com tudo isto, a classe trabalhadora (nos seus diversos segmentos, manual, não-manual, na indústria e nos serviços) e o próprio processo de trabalho sofreram uma autêntica “metamorfose”, que culminou com a sua irreversível fragmentação e fragilização, o que, como não podia deixar de ser, incidiu brutalmente sobre o próprio sindicalismo.
Assim, arestruturação do tecido produtivo e consequente recomposição das relações de trabalho conduziram ao metabolismo que vem ocorrendo nas nossas sociedades, com os seus sucessivos ciclos e oscilações, entre crises e dumping social, por um lado, e euforia consumista e crescimento, por outro, a ilustrara capacidade de readaptação da estrutura do capitalismo moderno, e o reforço deste sistema, já não apenas pela via da exploração do trabalho (que continuou a revitalizar-se, sob novas formas), mas, para além dela, através do reforço impressionante do peso do capitalismo financeiro e da sua componente especulativa. As lógicas de acumulação e os mecanismos de regulação do sistema económico têm, com efeito, revelado uma enorme capacidade inventiva no recurso a novos meios de mediação e expedientes perversos que, regra geral, conseguem assegurar e reforçar a sua reprodução, apesar do sofrimento que isso acarreta para as classes desapossadas. Como assinalou Ricardo Antunes, “houve uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas, paralelamente, efetivou-se uma significativa subproletarização do trabalho, decorrência das formas diversas de trabalho parcial, precário, informal, subcontratado, etc. Verificou-se, portanto, uma significativa heterogeneização, complexificação e fragmentação do trabalho” (inOs Sentidos do Trabalho. Coimbra, Almedina, 2013).
Foi neste contexto que uma dupla transformação afetou a ação dos sindicatos: por um lado, as decisões mais importantes para os interesses sindicais deslocaram-se da escala nacional “para cima” (para os níveis transnacionais) e “para baixo” (para níveis subnacionais/ locais). Em ambos os níveis, porém, os sindicatos revelaram-se consideravelmente mais fracos do que no nível nacional. Por outro lado, as decisões macroeconómicas passaram a ser progressivamente produzidas no quadro de negociações intergovernamentais e dos mercados globais, patamares que superaram claramente a capacidade de açãodas estruturas sindicais. Além disso, decisões sobre salários e condições de trabalho passaram a depender menos de acordos coletivos e mais das empresas, espaços onde a influência sindical se revelou dispersa e cada vez mais frágil.
A sociedade, e em especial as suas camadas mais jovens, enfrentam agora uma realidade sociolaboral marcada pelo retrocesso social e pela pressão esmagadora sobre os trabalhadores. A crise e o desemprego empurram milhões para a fome e o desespero e muitos outros são obrigados a emigrar. O chamado “trabalho digno”, que tanto tem sido invocado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) tornou-se uma referência utópica e a cada dia negada pela realidade onde o trabalho voltou de novo a ser uma mera mercadoria (mas agora ainda mais barata). Hoje, as contradições do capitalismo global fizeram com que os centros da alta finança, o dinheiro e a força crescente do mercado e da propriedade privada, se tornassem novos instrumentos de dominação, revertendo as anteriores conquistas do mundo do trabalho em novas formas de alienação, submissão e humilhação. Sobram razões para o regresso e revitalização das lutas sociais; mas faltam as utopias, os projetos e as alternativas credíveis. Entretanto os agentes institucionais da democracia perderam credibilidade, e a sua descredibilização parece irreversível. O campo laboral e a classe trabalhadora encontram-se extremamente divididos. E os sindicatos estão gastos e cansados, de tanto repetir o mesmo discurso e persistirem nos mesmos esquemas organizativos. Precisam de se abrir e ir ao encontro da nova classe trabalhadora, precarizada, desorganizada e perdida, embora mais qualificada e informada do que a das gerações passadas. 40 anos após o 25 de Abril de 1974, a classe trabalhadora atual tem sido demasiado fustigada pelas forças do neoliberalismo, que o atual governo personifica, funcionando como o zeloso representante de interesses externos, imperiais e antissociais. Mas se os velhos atores (partidos, sindicatos, instituições, governos) não foram capazes de dar voz aos desesperados da atual economia, aos maltratados pela democracia representativa, ao novo precariado e aos novos pobres, será a sociedade a rebelar-se, mais tarde ou mais cedo, já não apenas contra as injustiças e a corrosão das instituições, mas contra a democracia ela própria. Esse é o risco que corremos. Por isso, o 1º de Maio de 2014, ao contrário do de 1974, já não é de celebração e de festa, mas sim de luta e contestação radical das atuais políticas. Só assim, só com ação e participação cidadã, poderemos aspirar a defender o Estado social e reforçar democracia.
(*) Elísio Estanque - Professor da Faculdade de Economia e investigador do CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Voltar |