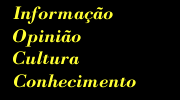|
O 25 de Abril em perspectiva história, 40 anos depois
24-04-2014 - André Freire (1)
No presente texto analisamos as “Continuidades e rupturas nos regimes políticos do oitocento e novecento portugueses”.[2] Para tanto, partimos das características fundamentais dos sistemas políticos modernos, sobretudo os liberais e os liberais-democráticos.
Após o enquadramento teórico inicial, numa segunda secção procedemos ao enquadramento dos quatro regimes políticos da era contemporânea (Monarquia Constitucional, I República, Estado Novo, Democracia/II Repúbica) no contexto da três vagas (e contra-vagas) de democratização à escala mundial, ou seja, colocámos os quatro regimes no seu contexto internacional. Nesta linha, recordámos os dois grandes critérios definidos por Samuel Huntington para delimitar os processos de democratização, sobretudo na primeira vaga: primeiro, a progressiva parlamentarização dos regimes políticos, com a criação de um governo responsável perante o parlamento, sendo este último eleito popularmente (a situação nos regimes presidenciais é algo distinta); segundo, a existência de um corpo eleitoral com direito de voto (sobretudo para as eleições parlamentares, e presidenciais quando fosse o caso) que representasse pelo menos 50% da população adulta masculina. Vimos que, com a Monarquia Constituicional, Portugal acompanha a primeira vaga de democratização sobretudo no que diz respeito ao segundo critério. Quanto à parlamentarização do regime, a Monarquia Constitucional não acompanha plenamente a tendência de democratização à escala mundial característica da primeira vaga: o rei (como chefe de Estado, chefe do poder executivo e poder moderador) detém uma proeminência no sistema político (escolha do executivo, escolha da esmagadora maioria dos membros da Câmara dos Pares, papel chave na alternância política, direito de dissolução do Parlamento e direito de veto absoluto sobre a legislação, etc.) não completamente compatível com a ideia de parlamentarização dos regimes políticos.
Na verdade, só com a I República se dará a plena parlamentarização do regime com o fim da monarquia e da representação política de base hereditária (fim da Câmara dos Pares), e com a plena responsabilização do poder executivo perante o legislativo (embora os contornos instituicionais de uma tal responsabilização fossem tudo menos claros). Mas no final da primeira vaga de democratização à escala mundial, sobretudo após o final da primeira guerra mundial, há na maioria dos países europeus um grande aumento da incorporação da cidadania nos processos políticos (grande extensões do sufrágio, geralmente universal masculino, adopção de sistemas eleitorais proporcionais). Porém, a I República portuguesa não só não acompanha esta tendência de abertura dos sistemas políticos europeus (pelo contrário: agrava o fechamento do sistema político face aos melhores anos da Monarquia Constitucional, 1878-1895), como a forte instabilidade política e governativa, a par da repressão e da violência políticas, preparam o terreno para o ascenso das alternativas antiliberais e anticomunistas.
Se a solução autoritária do Estado Novo se insere na primeira contra-vaga de democratização à escala mundial, que começa com a Marcha sobre Roma dos Fascios liderados por Mussolini e marca profundamente o período entre guerras (na Europa e não só), o autoritarismo português não só perdurará muito para além do fim da segunda guerra mundial como será o autoritarismo de direita com maior longevidade na Europa (48 anos).
Finalmente, com o colapso do Estado Novo e a instauração de um regime democrático (1974), Portugal inicia a terceria vaga de democratização à escala mundial. Se a longa experiência autoritária (1926-33 a 1974) marca negativamente a cultura política (por exemplo, o fortíssimo culto da autoridade, um anti-parlamentarismo larvar e uma certa cultura anti-partidos em largos estratos da população) e o desenvolvimento socioeconómico e cultural do país (por exemplo, em 1974 a percentagem de analfabetos rondava ainda os 30%, um valor sem paralelo na Europa da época), a chegada tardia à democracia plena também teve algumas vantagens, designadamente permitindo desenhar o novo regime com o longo adquirido civilizacional em matéria de perfil do sistema político e de direitos humanos e do cidadão (civis, políticos e sociais).
Colocados os regimes políticos portugueses da era contemporânea no contexto das vagas (e contra-vagas) de democratização à escala mundial, passamos às principais conclusões em matéria de continuidades e rupturas. Assim, por um lado, podemos dizer que há várias linhas de continuidade entre os quatro regimes políticos em análise ao longo do livro, embora nalguns casos elas sejam mais formais do que substanciais. Em todos os quatro regimes há um texto constitucional/uma Constituição (embora uma tenha sido outorgada pelo rei, a Carta de 1826, e outra tenha sido desenhada pelo ditador e pela sua entourage, e posteriormente plebiscitada em condições de condicionamento das liberdades públicas). Em todos há separação de poderes, embora no caso do Estado Novo essa separação tenha sido grosseiramente violada (concentração do poder de facto na figura do Presidente do Conselho; “justiça política”; etc.). Em todos a governação se baseia na expressão do consentimento dos governados face aos governantes por via eleitoral (mesmo se essa forma de legitimação co-existe com a tradição e a autoridade carismática, no caso da Monarquia Constitucional; e mesmo se no Estado Novo esse consentimento é grosseiramente condicionado e manipulado, designadamente devido à falta de pluralismo partidário e à compressão das liberdades públicas). Em todos há consagração de direitos fundamentais do homem e do cidadão, por regra no texto Constitucional (embora os dois primeiros regimes enfatizem mais os direitos civis e políticos, e os dois últimos contemplem também os direitos sociais, mesmo se no Estado Novo a consagração de tais direitos é mais formal do que efectiva e, além do mais, autoritariamente dirigida e controlada).
Por outro lado, há igualmente várias linhas de ruptura entre os quatro regimes políticos. Entre regimes onde os direitos humanos e do cidadão (sobretudo civis e políticos), bem como as liberdades públicas, são geralmente respeitados (apesar de alguns entorses significativos na I República e no final da Monarquia Constitucional), como sejam a Monarquia Constitucional, a I República e a Democracia, e aqueles onde tais direitos e liberdades não são respeitados, como o Estado Novo. Entre regimes onde a separação de poderes é geralmente respeitada (embora em graus diferenciados), como sejam a Monarquia Constitucional, a I República e a Democracia, e aqueles onde tal não acontece. Entre aqueles onde as eleições são “livres e justas” e fonte genuína da formação e da alternância no poder, como a Democracia, e aqueles onde a corrupção dos eleitores e a fraude generalizada tendem a desvirtuar significativamente os resultados eleitorais, como sejam a Monarquia Constitucional, a I República e o Estado Novo (mesmo se, neste capítulo, a compressão das liberdades públicas, a perseguição dos opositores e a total ausência de pluralismo na Assembleia Nacional fazem das eleições do Estado Novo processos totalmente distintos das eleições da Monarquia Constitucional e da I República). Entre os regimes onde há plena inclusão da cidadania no processo político, por via do sufrágio universal, como a Democracia, e aqueles onde há significativas limitações ao direito de voto (censitárias e/ou capacitárias, entre outras), como sejam a Monarquia Constitucional, a I República e o Estado Novo (mesmo se nas décadas de 1870 e 1880, durante a Monarquia Constitucional, e no advento inicial da I República, em 1911, e durante a ditadura Sidonista, em 1919, as extensões do direito de voto se aproximaram muito do sufrágio universal masculino). Entre aqueles onde os partidos são agentes fundamentais da representação política, como sejam a Monarquia Constitucional, a I República e a Democracia, e aqueles onde vigora na prática um regime de “partido único”, como seja o Estado Novo. Entre as diferentes clivagens e fontes de conflito político, usualmente diversas entre os quatro regimes.
Globalmente, as maiores rupturas ocorreram com o Estado Novo, face aos três regimes restantes. E as maiores continuidades situam-se entre a Monarquia Constitucional, a I República e a Democracia. Aliás, com todos os seus problemas (na separação de poderes e na parlamentarização dos regimes, no seu fechamento oligárquico, na instabilidade política, etc.), a verdade é que, por um lado, os regimes da Monarquia Constitucional e da I República acompanhavam as grandes tendências de modernização dos sistemas políticos das respectivas épocas. Mais, a legislação eleitoral das décadas de 1870 e 1880 (apenas episodicamente recuperada na I República: 1910-1911) era até bastante inclusiva para a época, o problema foi ter sido revertida (em contra-ciclo com as tendências europeias do final da I Guerra Mundial) na I República (excepção feita aos primeiros anos: 1910-1911). Mas, mesmo assim, muito do património fundamental do liberalismo político estava lá (direitos humanos e do cidadão, separação de poderes, pluralismo político, liberdades públicas, etc.). Pelo contrário, a sociedade envolvente é que estava bastante mais atrás (em termos de desenvolvimento) das sociedades europeias da época. Por exemplo, em 1880 a taxa de analfabetismo em Portugal (82%) era bastante superior à espanhola (72%) e, sobretudo, à italiana (68%). E 30 anos mais tarde, em 1910, estas diferenças entre países eram ainda mais cavadas: 75%, 53%, 46%, respectivamente (Reis, 1993, p. 231). E se virmos o emprego por sectores de actividade (57,4% de emprego na agricultura, em 1910, a taxa mais elevada da Europa Ocidental da época), ou a percentagem de população que vivia nas cidaddes (15,6%, em 1910, a taxa mais baixa de toda a Europa Ocidental e de Leste; a Espanha tinha 42% e a Itália 62,4%), ficamos com a ideia de que até ao colapso da I República o atraso português era muito maior ao nível social do que ao nível político. Claro que, por outro lado, tendo em conta precisamente este nível de desenvolvimento do país, então o fechamento do sistema político (com as restrições ao direito de voto no final da Monarquia Constitucional, de 1895 em diante, e durante praticamente toda a I República) torna ainda mais evidente as fortes tendências oligárquicas destes dois regimes e a exclusão da participação política da esmagadora maioria da população.
Mas o Estado Novo irá representar um enorme retrocesso em matéria de modernização do sistema político (mantém-se as restrições ao direito de voto; é o fim dos direitos do homem e do cidadão, sobretudo do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista ideológico; é o fim do pluralismo político e das liberdades públicas; é a concentração brutal de poderes no executivo; etc.), sobretudo tendo em conta a longevidade do regime. E ao nível social a herança deixada ao novel regime democrático continuava a ser a de um brutal atraso. Em 1970 havia ainda 33,6% por cento de analfabetos entre a população residente e, em 1974, o emprego por sectores de actividade era maior na agricultura (34,3%) do que na indústria (33,0%) ou nos servições (32,7%), o que é bem um indicador do atraso português (Barreto, 2000, pp. 103 e 121), agora cumulativamente político e social. E espelha bem o legado de atraso que a ditadura deixou ao novel regime democrático.
Mas apesar das maiores continuidades entre a Monarquia Constitucional e a I República com a Democracia, do que entre o Estado Novo e qualquer destes outros três regimes, também é verdade que a Democracia inaugura uma era completamente nova (e só então plenamente convergente com os nossos parceiros da Europa ocidental) no sistema político português. Pela primeira vez na história do Portugal contemporâneo se adopta uma cidadania plenamente inclusiva (isto é, o sufrágio universal) e as eleições podem ser consideras “livres e justas”, base da alternância política e da formulação das políticas públicas. Os direitos humanos e do cidadão (civis, políticos e sociais) são adoptados numa extensão nunca antes vista em Portugal e, além disso, a sua observância e respeito são seguidas numa escala sem precedentes nos regimes anteriores. Pela primeira vez há uma jurisdição constitucional autónoma e uma Constituição que foi já considerada das mais avançadas do seu tempo, condensando num só texto a grande maioria dos vários avanços civilizacionais do constitucionalismo moderno. Pela primeira vez há um sistema de governo com poderes claramente delimitados entre os vários órgãos do poder político soberano e, sobretudo, que tem funcionado geralmente com bastante eficácia e gerando os níveis mais elevados de estabilidade governativa (sobretudo após 1987, e influenciando positivamente a média geral para o todo o período, 1976-2009) do sistema político português desde o século XIX até à actualidade (exceptuando a estabilidade governativa artificial do autoritarismo). E, finalmente, apesar da pesada herança que vinha dos tempos da ditadura (e de ainda hoje continuarmos com um significativo atraso face à Europa nestes domínios), também é verdade que foi também durante o regime democrático que se deram os maiores avanços em matéria de instrução, saúde, estrutura do emprego e protecção social, e que, portanto, mais se avançou na convergência socioeconómica e cultural com a Europa.
Alguns exemplos do legado de 48 anos de uma ditadura alinhada à direita e, posteriormente, dos avanços sociais conseguidos com o regime democrático são mais bastante visíveis quando consideramos dados comparativos. Por exemplo, em matéria do Índice de Desenvolvimento Humano (um índice composto, com mesma ponderação, de três indicadores de base: esperança média de vida à nascença; literacia da população adulta, medida em termos de número médio de anos de escolaridade; rendimento médio da população, medido em paridades do poder de compra em dólares) em 1970 Portugal (0,508) estava bastante atrás quer da Espanha (0,820), quer da Grécia (0,723); do conjunto dos 24 países da OCDE (com um máximo de 0,865) Portugal só tinha atrás de si a Turquia (0,441). Embora em 1992 Portugal (0,838) continue a ter atrás de si apenas a Turquia (0,739) estava já bastante mais próximo quer dos países mais avançados da OCDE, quer da Espanha (0,888), quer da Grécia (0,874). Também em matéria de peso do emprego por sectores de actividade houve uma grande aproximação dos padrões mais avançados da OCDE entre 1970 e 1990: 1970, com 30% de emprego na agricultura Portugal só tinha atrás de si a Grécia (40,8%) e a Turquia (67,6%); em 1990, embora a posição relativa de Portugal se mantivesse (com 17,8%), havia uma enorme aproximação dos padrões dominantes na OCDE. Um atraso equivalente, em 1970, embora simétrico (menor industrialização: baixo peso relativo do emprego na indústria), e uma evolução positiva semelhante, entre 1970 e 1990, podem ser observados em matéria de peso do emprego no sector secundário em Portugal e no conjunto da OCDE. Portanto, os avanços no sentido da modernização política, conseguidos com a passagem ao regime democrático, tiveram também claros reflexos em matéria de avanços sociais e económicos; e representaram igualmente, face aos regimes anteriores, uma mudança qualitativa de tal ordem que não tem equivalente nos três regimes anteriores.
Note-se, porém, que dizer que o regime democrático representou e representa enormes ganhos socioeconómicos, culturais e políticosface aos regimes políticos anteriores, nomeadamente perante a ditadura doEstado Novo, não significa adotar uma postura acrítica face ao status quo democrático. Ou seja, a degradação do apoio (pelo menos no «apoioespecífico», isto é, no apoio ao funcionamento efetivo e aos resultados da democracia,e não necessariamente no apoio aos princípios democráticos: «apoio
difuso») ao funcionamento da democracia tem vindo a aumentar. Claro que, em primeiro lugar, a satisfação com a democracia está dependente de muitos fatores (o desempenho da economia, o partido que está no poder e a simpatia partidária dos respondentes, etc.). Em segundo lugar, embora os portugueses deem também bastante importância aos fatores políticos como alicerces de uma democracia, a verdade é que dão ainda maior importância ao bem-estarsocial e económico como alicerce fundamentalde tal regime, e ainda que as diferenças não sejam estatisticamente significativas nalguns casos. Portanto, apesar dos claríssimosavanços face aos regimes anteriores, também é preciso reconhecer que ademocracia portuguesa vive hoje um dos momentos mais críticos e problemáticos da sua ainda, apesar de tudo, curta existência.
[1] Professor Auxiliar com Agregação, Departamento de Ciência Políitca e Políticas Públicas do ISCTE-IUL, Investigador do CIES-IUL. CV: http://www.cies.iscte.pt/np4/?newsId=474&fileName=CV_English_January_2014_AF_FINAL.pdf
Coordenador do Projeto "Elections, Leadership and Accountability: (…)", FCT "PTDC/CPJ-CPO/119307/2010 – http://er.cies.iscte-iul.pt/
[2] Este extracto é retirado da obra Freire, André (organizador) (2012, reimpressão 2013), O Sistema Político Português, séculos XIX-XXI: Continuidades e Ruturas, Coimbra, Almedina, capítulo 10, «conclusões». As referências e outro material deverão ser aí consultadas.
Voltar |