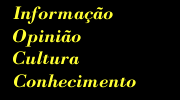|
SE A UNIÃO EUROPEIA NÃO MUDAR, VAMOS AO FUNDO COM ELA
28-03-2014 - Alfredo Barroso(*)
1. Em 1957, quando tomou conhecimento do projecto de Mercado Comum europeu, o político radical-socialista francês Pierre Mendés-France, que foi primeiro-ministro e era adepto de uma República moderna, fez o seguinte comentário:
«O projecto do mercado comum, tal como nos é apresentado, baseia-se no liberalismo clássico do século XX, segundo o qual a concorrência pura e simples resolve todos os problemas. A abdicação de uma democracia pode assumir duas formas: ou recorre a uma ditadura interna através da entrega de todos os poderes a um homem providencial; ou delega os seus poderes numa autoridade externa, a qual, em nome da técnica, exercerá de facto o poder político, porque, invocando a necessidade de sanear a economia, facilmente começará a ditar uma política monetária, orçamental, social, em suma, uma política no sentido mais amplo do termo, a nível nacional e internacional».
A quase seis décadas de distância, Pierre Mendes-France identificou, com impressionante clarividência, os principais perigos que a concepção do Mercado Comum europeu implicava:
- a abdicação da democracia, sujeitando-a às leis do mercado;
- a renúncia à soberania, em prejuízo do papel dos Estados democráticos;
- a delegação de poderes numa autoridade externa dominada pela tecnocracia;
- a entrega do verdadeiro poder político nas mãos da plutocracia.
Os factos vieram dar-lhe inteira razão. A União Europeia tornou-se uma fortaleza ultraliberal aparentemente inexpugnável, apesar de já ter sofrido alguns rombos nas muralhas.
A liberalização, a desregulação dos mercados, a desindustrialização, a deslocalização de empresas, a globalização acelerada da indústria financeira – associadas às políticas de austeridade impiedosas, impostas em plena crise pelo FMI, pelo BCE e pela Comissão Europeia – estão a causar uma regressão social profunda, graves injustiças e um recuo preocupante da democracia.
Por toda a UE, as grandes empresas reclamam leis laborais mais flexíveis, reduções significativas dos salários, intensidade de trabalho acrescida e, mesmo, limitação das liberdades sindicais. Concomitantemente, governos submissos aos tecnocratas de Bruxelas e de Washington representados na «troika», estão a impor aos países em crise da zona euro, que empobreçam rapidamente para pagar aos credores agiotas que dominam a banca e os mercados financeiros.
Vigora hoje na Europa um modelo autoritário e tecnocrático, que substituiu quase por completo o modelo pluralista e participado da política. Trata-se de uma mudança radical que, curiosamente, foi prevista num estudo publicado pelo Banco Mundial em meados da década de 1990. A destruição do modelo social europeu vai de par com a destruição de uma democracia inclusiva.
A «troika» e os seus mandatários têm vindo a impor medidas (como o chamado «Pacto orçamental», que o actual Governo de direita, com o acordo do PS, já submeteu à aprovação da AR) destinadas a perpetuar a tutela dos interesses financeiros sobre as políticas económicas dos Estados, acentuando assim as características antidemocráticas da UE, e criando, de facto, na zona euro, um directório constituído pelos dirigentes dos países mais poderosos.
2. O mito construído pela propaganda, segundo o qual o Mercado Comum europeu – depois a Comunidade Económica Europeia (CEE), e agora a União Europeia – se tornou o factor essencial da paz na Europa, tem cada vez menos pernas para andar e cada vez menor base de sustentação.
De facto, como escreve José Manuel Pureza (revista VÍRUS, nº 4):
«A Europa da paz foi a Europa assente num contrato social amplo à escala de cada Estado e numa preocupação com a coesão social e a justiça territorial à escala do conjunto da União».
Num ensaio que publiquei no número mais recente da revista «Estudos do Século XX», dedicada ao tema do Estado-providência (que hoje designamos sobretudo por «Estado social») tive a oportunidade de salientar que:
«O capitalismo na sua versão neoliberal é o maior inimigo do Estado-providência. Visa a sua destruição. Utiliza estrategicamente as crises, a austeridade e a recessão para reduzir os salários, baixar o nível de vida das populações e aumentar o desemprego até níveis incomportáveis pelo Estado-providência, tornando-o financeiramente insustentável.
«Mas o Estado-providência é hoje um pilar tão essencial à sobrevivência de uma sociedade democrática como o são, por exemplo, os pilares da Defesa nacional e da Segurança interna. De facto, qualquer destes três pilares é um factor fundamental de produção de segurança e de redução da incerteza para o conjunto dos cidadãos».
Enfim, é sabido que a plutocracia, que está no âmago do capitalismo neoliberal, pretende reduzir o Estado à sua expressão mais simples, abrindo a via para a apropriação pelos privados dos sectores públicos da Educação, Saúde e Segurança Social, considerados altamente rentáveis, e transformando o Estado mínimo que restar num aparelho militar e policial, numa verdadeira «guarda pretoriana» de manutenção da ordem pública e, por essa via, de protecção dos representantes do poder económico e financeiro dominante.
A pequena legião de poderosos que constitui a plutocracia, há muito que encara o Estado-providência como uma «ameaça para o futuro», e considera que é impossível evitar «um aumento significativo das desigualdades sociais».
Para a plutocracia, o que está em causa é o negócio e o lucro, a diminuição dos custos de produção e, portanto, dos salários, da mão-de-obra e das prestações sociais - e não a necessidade de criar mais empregos, de melhorar a qualidade de vida das populações, de promover um crescimento com desenvolvimento humano equilibrado e sustentável.
O verdadeiro objectivo da plutocracia nunca foi tentar construir um mundo melhor para todos, mas sim criar as condições e o ambiente propícios ao fortalecimento das grandes empresas transnacionais, aos negócios, ao lucro e à especulação financeira. Para isso, é indispensável reduzir substancialmente as estruturas, a dimensão e o papel do Estado, diminuir drasticamente as suas despesas, baixar os salários, reduzir as férias dos trabalhadores, tornar precário o trabalho, fazer cortes brutais nas prestações familiares, nos subsídios de desemprego e de doença. Em suma: considera indispensável impor um modelo político rígido de austeridade. E é exactamente isso o que hoje já está a acontecer.
3. O que a direita neoliberal verdadeiramente deseja é um crescimento com elevado nível de desemprego e baixos salários.
A duvidosa e ténue retoma económica - tão saudada pelos governos de direita, tanto em Portugal como em Espanha, nos últimos tempos - não foi acompanhada por qualquer retoma da criação de emprego.
As ligeiras oscilações das taxas de desemprego – para além de ignorarem o nível de desemprego real – devem-se sobretudo à diminuição da população em idade de trabalhar, em consequência dos movimentos migratórios (a imigração diminuiu e a emigração aumentou) e é óbvio que a preocupante baixa da taxa de natalidade vai ter repercussões muito negativas no futuro.
Com a forte baixa do poder de compra e o aumento do desemprego de longa duração, não se vê como será possível travar a escalada do empobrecimento da população em geral, designadamente da classe média, e o aumento do sofrimento dos mais idosos. Em Portugal, aliás, a taxa de desemprego dos jovens continua a ser muito elevada e a taxa global só não aumentou graças à emigração e à diminuição acentuada da mão-de-obra disponível. E em Espanha a taxa de desemprego continua a ser ainda mais elevada.
Tanto em Portugal como em Espanha, o fosso que separa ricos e pobres é um dos maiores da Europa. Em Espanha, por exemplo, o número de milionários aumentou 13 % em 2012, segundo um relatório do Crédit Suisse, e o desemprego tornou-se crónico. O cenário de uma economia em estagnação (como sucedeu no Japão durante mais de uma década) é agora considerado como uma forte possibilidade em Espanha, com empresas formidáveis que exportam, investem no estrangeiro e criam emprego, mas só no exterior.
Poderá suceder algo de semelhante em Portugal? Isto é: um crescimento com desemprego e salários muito baixos? É bastante provável.
Num notável artigo publicado em Novembro de 2013 no «El País», Josep Ramoneda pôs o dedo na mais grave ferida da União Europeia: a impossibilidade de criação de emprego, a curto e a médio prazo, em resultado das políticas neoliberais que vêm sendo impostas aos países em crise. Escreveu ele:
«Todas as empresas, inclusive aquelas que funcionam e têm bons resultados, principalmente as que se dedicam à exportação, diminuem o número de empregados, ano após ano. A competitividade, horizonte ideológico do nosso tempo, que é o que tem de garantir o progresso da economia, baseia-se precisamente no desemprego e na queda dos salários, que, como é evidente, são duas magnitudes que vão de par. As novas tecnologias permitem ganhar competitividade à custa do trabalho, e em muitos casos em prejuízo das pessoas mais qualificadas, o que é desesperante para os jovens com boa formação».
Daqui decorrem várias questões essenciais:
- Como garantir uma vida decente aos cidadãos num contexto de queda estrutural do trabalho? É um debate que, em Bruxelas, brilha pela ausência;
- Como tenciona a Europa adaptar-se à economia globalizada?
- Que papel podem desempenhar os Estados nacionais, para que a fractura laboral não destrua as liberdades e a vida em comum?
Em vez de procurarem respostas positivas, os governos optam por reformas laborais que visam facilitar os despedimentos, que mandam mais gente para o desemprego e que geram, correlativamente, o aumento da precariedade e a proliferação dos minijobs. Entretanto, vão entretendo os cidadãos com música celestial: o discurso dos empreendedores e do valor acrescentado.
Veja-se o que está a acontecer em Portugal. Para além do desemprego muito elevado (mais de metade é de longa duração e afecta cada vez mais jovens), a diferença salarial média entre trabalhadores despedidos em 2011 e trabalhadores contratados posteriormente, é de menos 11 %. Os novos empregados estão a receber menos 110 euros/mês (cerca de menos 1500 euros/ano). Entre os que mantiveram o emprego, 55 % sofreram cortes ou viram os seus salários congelados. O que significa que as empresas estão a ganhar com a chamada «rotação de trabalhadores». Uma tendência que o Banco de Portugal receia que resulte em perda de produtividade.
O trabalho é, no nosso sistema, aquilo que deve proporcionar meios de vida, realização e reconhecimento aos cidadãos – como salienta Josep Ramoneda no texto que já referi.
E uma pergunta desde logo se impõe:
- Será sustentável, sem derivas autoritárias, um sistema que não garante o trabalho aos seus cidadãos e que nem sequer assegura aos que têm emprego as condições mínimas para uma vida decente?
Perante esta realidade, qualquer forma de triunfalismo é um insulto que escamoteia a ausência de um verdadeiro debate político e social.
- Para onde queremos ir? Para uma sociedade do desemprego e dos minijobs?
O fatalismo, o determinismo daqueles que repetem uma e outra vez que não há alternativa, que não se pode agir de outra forma, só pode ser fruto de má-fé ou de impotência.
4. Na minha opinião, numa perspectiva que pretende ser de esquerda, as respostas às questões de fundo sobre o futuro do euro e da própria União Europeia passam inevitavelmente pela revisão dos tratados em vigor: o Tratado de Maastricht (1992), que instituiu a União Económica e Monetária, e o Tratado de Lisboa (2007), sobre a governação da União Europeia.
Se essa revisão se fará ou não, é outra história. Mas não é concebível uma moeda única entre países que estão em constante guerra económica uns contra os outros. Guerra da qual vão saindo vencedores os países mais desenvolvidos, do centro da zona euro (Alemanha, Holanda, Áustria), e vão saindo derrotados os países da periferia, mais vulneráveis e pejorativamente designados PIGS (Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha).
A crise do euro resulta, não só do colete-de-forças que a moeda única constitui para os Estados membros da zona euro mais dependentes e vulneráveis, mas também da financeirização desenfreada das suas economias, do dumping fiscal e salarial entre os países membros, da rivalidade constante e desgastante entre esses países para atrair capitais.
Tudo isto afecta seriamente o bem-estar das populações, atingidas por cortes brutais na despesa pública (salários, despesas sociais, etc.), por uma flexibilização cada vez maior das leis laborais (com o inevitável aumento do desemprego), por reformas fiscais injustas (que afectam sobretudo os rendimentos do trabalho e favorecem os rendimentos do capital), pelo aumento das taxas de acesso aos serviços públicos essenciais (sobretudo da Saúde), pela privatização de empresas públicas estratégicas, e por aí fora.
A UE tem de libertar-se da obsessão neoliberal que consiste em impor aos Estados membros a disciplina dos mercados financeiros, nomeadamente através das agências de rating. Não faz qualquer sentido que a indústria financeira desregulada – que provocou a crise e causou os aumentos dramáticos das dívidas e dos défices – seja chamada a financiar os défices que ela própria provocou (fazendo exigências intoleráveis e impondo regras draconianas aos países que sofrem as consequências da crise e se encontram em estado de necessidade).
A Zona Euro não conseguirá sair da crise através da acumulação de planos de austeridade, apenas para «tranquilizar» os mercados financeiros. Há alternativas que reclamam discussão pública. Passo a enunciar, sinteticamente, algumas propostas alternativas que têm sido defendidas por vários especialistas espanhóis e franceses de reconhecido mérito:
– Reforçar os poderes do Parlamento Europeu;
– Nomear a Comissão Europeia através do Parlamento Europeu, para garantir a sua legitimidade democrática;
– Estabelecer um novo estatuto do euro que garanta simetrias, equilíbrio e igualdade entre os povos;
– Definir a União Europeia como zona de auto-suficiência financeira, tornando-a imune às exigências da indústria financeira;
– Criar um imposto sobre transacções financeiras, para desincentivar a especulação e promover a actividade produtiva, e também sobre os activos bancários, para criar um fundo que permita compensar possíveis resgates bancários futuros;
– Criar uma agência de qualificação (rating) pública e proibir que as agências privadas possam qualificar os títulos da dívida pública;
– Proibir os bancos e empresas europeias de ter actividades e filiais em paraísos fiscais e elaborar uma lista completa destes, segundo critérios muito rigorosos;
– Renegociar as taxas de juro excessivas a que alguns países tiveram de se endividar desde 2009; reestruturar as dívidas públicas insustentáveis; evitar que os Estados tomem a seu cargo as dívidas dos bancos; não reembolsar os activos acumulados pela evasão fiscal;
– Empreender uma ampla reforma que ponha cobro ao dumping fiscal entre países da UE, e ao abrigo da qual o custo da crise seja pago pelo sector financeiro (abrangendo transacções financeiras, rendimentos exorbitantes, empresas multinacionais e patrimónios inflados por bolhas financeiras ou imobiliárias);
– Reformar em profundidade o sistema bancário: recentrando os bancos na distribuição de crédito; proibindo-os de especular e financiar a especulação; restabelecendo a separação entre bancos de depósitos e bancos de negócios; e estabelecendo um poderoso pólo financeiro público europeu sob controlo social e democrático;
– Reformar o estatuto do BCE, obrigando-o a prestar contas perante o Parlamento Europeu e impondo-lhe como preocupação prioritária o pleno emprego, a igualdade e o bem-estar humano, no âmbito de um sistema financeiro que proteja os Estados membros da Zona Euro dos ataques dos especuladores financeiros;
– Impor a garantia das dívidas públicas pelo BCE, para que os países possam financiar-se a 10 anos à taxa de 2 %, sem risco; e, se necessário, fazer intervir o BCE para adquirir títulos públicos com o objectivo de manter a taxa de juro baixa (como fazem os bancos centrais dos EUA e do Reino Unido);
– Reforçar o papel do Banco Europeu de Investimentos no desenvolvimento, orientando a sua actividade no sentido de transformar o modelo produtivo europeu;
– Assegurar uma firme coordenação das políticas macroeconómicas e uma redução concertada dos desequilíbrios comerciais entre países da UE (criando um quadro em que os países que tenham excedentes importantes financiem os países deficitários através de investimentos directos ou de empréstimos a longo prazo).
Estas propostas não são, obviamente, exaustivas nem constituem uma panaceia. Servem apenas para demonstrar que há alternativas a esta política de destruição da economia e da cidadania, de ruptura da coesão social, e de desvalorização sistemática do factor trabalho em benefício do capital, das grandes empresas e dos accionistas.
5. Perguntar-me-ão, para terminar: mas acredita mesmo na viabilidade de tais reformas, se não a curto, pelo menos a médio prazo?
A minha resposta é: não, não acredito! Pelo menos enquanto os partidos da Internacional Socialista não conseguirem libertar-se da canga ideológica da «terceira via», da influência nociva do «blairismo», e da ilusão de que existe um «novo centro» progressista.
Os partidos socialistas, social-democratas e trabalhistas têm sido, desde o final dos anos 80 do século passado, uma espécie de variante social-democrata do neoliberalismo triunfante – uma «esquerda de governo» (entre aspas) que gosta de praticar a alternância no poder, mas não quer ouvir falar de rupturas com o statu quo neoliberal, e por isso não propõe qualquer alternativa programática genuína.
Claro que é muito difícil revolucionar ou reformar a social-democracia num só país. Mas seria interessante a IS promover a elaboração de um programa comum do socialismo democrático, que passaria por ser um documento orientador e de referência para os diferentes programas dos partidos socialistas, social-democratas e trabalhistas, naturalmente adaptados às respectivas realidades nacionais.
Para começar, estes partidos deviam renovar os seus discursos e ancorar as suas propostas políticas em valores tão basilares como a soberania popular, a igualdade entre os cidadãos, a universalidade de direitos e a solidariedade social. Isso já constituiria, só por si, uma novidade e uma ruptura com o statu quo neoliberal.
E deviam estabelecer como objectivo fulcral dos seus programas a criação de condições para maior desenvolvimento humano, melhor justiça social e mais bem-estar para a maioria dos cidadãos, através da justa redistribuição das riquezas, da garantia de sustentabilidade dos serviços públicos essenciais (Educação, Saúde, Segurança Social), da defesa do Estado de Direito democrático, assim como dos direitos, liberdades e garantias fundamentais em que ele assenta.
Sem esta renovação, nada feito. E a União Europeia bem pode esperar por novas e gravíssimas crises até se afundar. E nós com ela, como o «Titanic»…
Alfredo Barroso
(*) Este ensaio, mais longo, serviu de base ao texto, mais curto, que publiquei no «Le Monde Diplomatique - edição portuguesa» deste mês de Março de 2014.
Voltar |