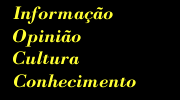|
A FAMILIA (14)
12-05-2017 - Henrique Pratas
Nosso amor sexual difere essencialmente do simples desejo sexual, do eros dos antigos. Em primeiro lugar, porque supõe reciprocidade no ser amado, igualando, nesse particular, a mulher e o homem, ao passo que no eros antigo se fica longe de consultá-la sempre. Em segundo lugar, o amor sexual atinge um grau de intensidade e de duração que transforma em grande desventura, talvez a maior de todas, para os amantes, a falta de relações íntimas ou a separação; para que se possuam não recuam diante de coisa alguma e arriscam mesmo suas vidas, o que não acontecia na antiguidade, senão em caso de adultério. E, por fim, surge um novo critério moral para julgar as relações sexuais. Já não se pergunta apenas — "São legítimas ou ilegítimas?" — pergunta-se também: "São filhas do amor e de um afeto recíproco?" É evidente que, na prática feudal ou burguesa, esse critério não é mais respeitado do que qualquer outro critério moral; passa-se por cima dele; equivale aos demais, é reconhecido em teoria, no papel. E, por ora, não se pode pedir mais.
A Idade Média parte do ponto em que se deteve a Antiguidade, com seu amor sexual em embrião, isto é, parte do adultério. Já descrevemos o amor cavalheiresco, que inspirou Tagelieder. Deste amor, que tende a destruir o matrimónio, ao amor que lhe há de servir de base, há um longo caminho que a cavalaria jamais percorreu até o fim. Mesmo quando passamos dos frívolos povos latinos aos virtuosos alemães, vemos, no poema dos Nibelungos, que Krimhilda, embora esteja secretamente apaixonada por Siegfried e este por ela, quando Gunther lhe anuncia que a prometeu a um cavaleiro cujo nome não diz, responde apenas: "Não me precisais suplicar, farei aquilo que me ordenais; estou disposta, senhor, de boa vontade, a unir-me àquele que me dais por marido." Não ocorre, de modo algum, a Krimhilda a ideia de que seu amor possa ser levado em conta naquele assunto. Gunther pede a mão de Brunilda e Etzel a de Krimhilda, sem jamais as terem visto. Do mesmo modo, em Gutrun, Sigebant da Irlanda intenta casar-se com a norueguesa Ute, Hetel de Hegelingen com Hilda da Irlanda e, finalmente, Siegfried de Morlândia, Hartmut da Ormânia e Herwig da Seelândia, pedem, os três, a mão de Gutrun; e só aqui acontece que esta se pronuncia livremente pelo último. Normalmente, a noiva do jovem príncipe é escolhida pelos pais dele, se ainda vivem, ou se não pelo próprio príncipe, aconselhado pelos grandes senhores feudais cuja opinião tem muito peso nesses casos. E certamente não pode ser de outro modo. Para o cavaleiro ou barão, como também para o príncipe, o matrimónio é um ato político, uma questão de aumento do poder mediante novas alianças; o interesse da Casa é que decide, não as inclinações do indivíduo. Como poderia, assim, caber ao amor a última palavra na determinação dos casamentos?
O mesmo acontece com os burgueses das corporações, nas cidades da Idade Média. Os próprios privilégios que os protegem, as cláusulas dos regulamentos gremiais, as complicadas fronteiras que os separam legalmente, ora de outras corporações, ora de seus companheiros da mesma corporação, ou dos seus oficiais e aprendizes, tornavam bastante estreito o círculo em que podiam buscar esposas adequadas. Nesse complexo sistema, evidentemente, não era o gosto pessoal e sim a conveniência de família que determinava qual a mulher que mais convinha.
Na maioria dos casos, portanto, e até o final da Idade Média, o matrimónio continuou sendo o que tinha sido desde sua origem: um contrato não firmado pelas partes interessadas. A princípio, vinha-se ao mundo já casado com todo um grupo de seres do outro sexo. Depois, na forma posterior de matrimónio por grupos, é de se crer que as condições fossem análogas, mas com estreitamento progressivo do círculo. No matrimónio sindiásmico, é regra que as mães combinem entre si o casamento de seus filhos; também aqui, o fator decisivo é o desejo de que os novos laços de parentesco robusteçam a posição do jovem par na génese e na tribo. E, quando a propriedade privada se sobrepôs à propriedade coletiva, quando os interesses da transmissão por herança fizeram nascer a preponderância do direito paterno e da monogamia, o matrimónio começou a depender inteiramente de considerações económicas. Desaparece a forma de matrimónio por compra, mas, em essência, continua sendo praticado cada vez mais, e de modo que não só a mulher tem seu preço, como também o homem, embora não segundo suas qualidades pessoais e sim conforme a importância de seus bens. Na prática, e desde o princípio, se havia alguma coisa inconcebível para as classes dominantes era que a inclinação mútua dos interessados pudesse ser a razão por excelência do matrimónio. Isto só se passava nos romances ou entre as classes oprimidas — que não se contavam para nada.
Tal era a situação com que se encontrou a produção capitalista quando, a partir da era dos descobrimentos geográficos, se pôs a conquistar o domínio do mundo através do comércio universal e da indústria manufatureira. É de se supor que este modo de matrimónio lhe conviesse excecionalmente, e isso era realmente verdade. E, entretanto — a ironia da história do mundo é insondável — seria precisamente o capitalismo que abriria nesse modo de matrimónio a brecha decisiva. Ao transformar todas as coisas em mercadorias, a produção capitalista destruiu todas as antigas relações tradicionais e substituiu os costumes herdados e os direitos históricos pela compra e venda, pelo "livre" contrato. O jurisconsulto inglês H. S. Maine acreditou ter feito um descobrimento extraordinário ao dizer que nosso progresso em relação às épocas anteriores consiste em que passamos from status to contract, isto é, de uma ordem de coisas herdada para outra livremente consentida — uma afirmação que, na medida em que é correta, já se encontrava de há muito no Manifesto Comunista.
Mas, para firmar contratos, é necessário que haja pessoas que possam dispor livremente de si mesmas, de suas ações e de seus bens, e que se defrontem em igualdade de condições. Criar essas pessoas "livres" e "iguais" foi exatamente uma das principais tarefas da produção capitalista. Apesar de que, no começo, isto não se fez senão de uma maneira meio inconsciente e, além do mais, sob o disfarce da religião, a partir da Reforma luterana e calvinista, ficou firmemente assentado o princípio de que o homem não é completamente responsável por suas ações senão quando as pratica com pleno livre arbítrio, e que é um dever ético a oposição a tudo que o constrange à prática de um ato imoral. Mas como pôr de acordo esse princípio com as práticas, usuais até então, para contratar o casamento? Segundo o conceito burguês, o matrimónio era um contrato, uma questão de Direito, e certamente a mais importante de todas, pois dispunha do corpo e da alma de dois seres humanos para toda a vida. É verdade que, naquela época, o matrimónio era o acordo formal de duas vontades; sem o "sim" dos interessados, nada se fazia. Sabia-se, contudo, muito bem, como se obtinha o "sim" e quais eram os verdadeiros autores do matrimónio. Mas, uma vez que para todos os demais contratos se exigia a liberdade real para decidir, por que não era exibida a liberdade neste contrato? Os jovens que deviam ser unidos não tinham também o direito de dispor livremente deles mesmos, de seu corpo e de seus órgãos? Não se havia posto em moda, graças à cavalaria, o amor sexual? Contra o amor adúltero da cavalaria, não seria o amor conjugal a verdadeira forma burguesa do amor? Mas, se o dever dos esposos era o amor recíproco, não seria dever dos que se amavam o de não casarem senão um com o outro, e não com alguma outra pessoa qualquer? E este direito dos que se amavam não seria superior ao direito do pai e da mãe, dos parentes e demais "casamenteiros" tradicionais? Desde o momento em que o direito à livre investigação pessoal penetrava na Igreja e na religião, poderia acaso deter-se ante a intolerável pretensão da velha geração de dispor do corpo, da alma, dos bens de fortuna, da ventura e da desventura da geração mais jovem?
Forçosamente essas questões deveriam surgir numa época em que se afrouxavam todos os antigos vínculos sociais e em que eram sacudidos os fundamentos de todas as conceções tradicionais. A Terra havia se tomado rapidamente dez vezes maior; em lugar de apenas um quadrante do hemisfério, o globo inteiro se estendia agora ante os olhos dos europeus ocidentais, que se apressaram a tomar posse dos outros sete quadrantes. E, ao mesmo tempo que as antigas e estreitas fronteiras do país natal, caíam as milenárias barreiras impostas ao pensamento da Idade Média. Um horizonte infinitamente mais extenso se abria ante os olhos e o espírito do homem. Que importância podiam ter a reputação de honorabilidade e os respeitáveis privilégios corporativos, transmitidos de geração em geração, para o jovem que era atraído pelas riquezas das Índias, pelas minas de ouro e prata do México e do Potosi? Aquela foi a época da cavalaria andante da burguesia; porque também esta teve o seu romantismo e o seu delírio amoroso, mas numa base burguesa e, em última análise, com objetivos burgueses.
Artigo Parte 14 
Continua na próxima semana
Voltar |