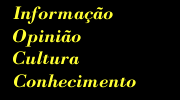|
FILHOS DA MADRUGADA
21-04-2017 - Pedro Barroso
Nascido no Ribatejo acompanhei meu pai nas andanças de professor. Quando tinha os meus 4 anos fui para Lisboa bairro de S Bento, onde ele fora colocado numa Escola. Ali cresci. Comprei a primeira viola e fui ao Zip Zip em 69. Depois foi crescer na raiva e na vida, encontrar companheiros, descobrir mais gente que pensava como eu, contra a Guerra Colonial. E veio o 25 de Abril, o mais lindo episódio de uma vida, a alegria fez-se paixão e sair era importante.
Combinávamos na Era Nova, na Avenida de D Carlos, em Lisboa, que era a sede da Cooperativa. Edifício ocupado, em tempos de revolução; tempos adiados de renda e provisórios na definição, todos sabiam. Um dia era uma situação que teria o seu fim.
Ajustavam-se então os sítios, os percursos, os carros, as caminhadas, as horas.
Combinávamos quem ia com quem, onde, quem ia de boleia, quem eram os contactos no local e se e quanto nos ajudariam na gasolina. Quantas vezes íamos, sem saber sequer se nos pagavam os gastos, juntando os tostões para encher o depósito.
Normalmente, a Irene – supostamente responsável pelo secretariado, se tal coisa se podia dizer do que fazia…- baralhava tudo, pois o seu conhecimento da Geografia portuguesa era diminuto. Uma vez, um coro esperado em Vendas Novas foi parar a Odemira. Era tudo muito divertido. Para Todos nós era uma forma de descobrir finalmente, o verdadeiro Portugal.
Na viagem parávamos para endireitar as costas, vigiar a carga, ver se o pneu já tinha rebentado, por água no radiador. Digo isto, que me lembrei agora, porque tive, de facto, um pneu com um perigosíssimo aneurisma de estimação, que andou centenas de quilómetros no meu GS amarelo, até que o Chico Fanhais me proibir de andar com aquilo. Curiosamente, não por questões de segurança, mas porque queria andar mais depressa. Adiante.
Chegar para o jantar era uma festa. Os amigos radicados no local, gente distante dos centros, activistas de combate local, malta insistente no convite, ficava aliviada. Tínhamos, realmente, chegado. O Zeca já chegou, avisavam-se uns aos outros. Era um alívio.
Éramos normalmente anunciados - com a presença doZeca e outros. Era este sempre o cartel.
Eu, claro, era um dos outros. A teoria dos vade mecums, estão a ver. Os vade mecuns éramos nós, os outros. Os badamecos, em moderna corruptela, nada mais que isso. Cheios de importância por estarmos ali, acamaradando com o Zeca ou o Adriano.
Ou por estarmos ali simplesmente solidários, e fazermos parte de um grupo de gente que se estimava. Importantes no espaço e no momento, até por sermos sérios no lado de dentro de tudo o que fazíamos e acreditávamos. E ajudávamo-nos uns aos outros.
- Quem trouxe um adufe?
- Empresta aí o teu cavaquinho…
O Zeca não gostava deste modo de anunciar a festa, por desrespeito aos colegas; mas, a bem dizer, nem nós nos importávamos, nem era corrigível. Por toda a parte, escrevia-se assim. Éramos os outros.
Toquei quilómetros de chula da Povoa com o Zeca, chiça. Lembram-se? Começava assim:
Em Janeiro bebo o vinho,
em Fevereiro como o pão,
nem que chovam picaretas,
hás-de cair rei Milhão .
|
Éramos muitos. O Zeca quando aparecia o pessoal todo chamava-nos o bacalhau com todos.
O Aristides, quase sempre de sandálias; o exímio Iglésias, que, mais tarde, vim a encontrar em Nova Iorque, onde vive; o Chico Fanhais, de voz eclesiástica e timbre inconfundível; o nosso eterno o Adriano, que tão breve se tornou; o Fausto, sempre exigente nos arranjos; o bizarro Fernando Laranjeira que um dia se meteu num táxi e disse tranquilamente “-Paris, se faz favor!”
O Mário Viegas, por vezes, vinha e dizia um poema maluco, coisas que só ele descobria. Ou o Zé Fanha, que os escrevia com sentimento e dizia como ninguém. Aparecia o Paulo Vaz de Carvalho, que tocava com o Adriano e encantava-nos – onde raio tinha ele descoberto aquele gajo? Havia os Salomés todos, cinco irmãos do Redondo, uma festa à parte, alentejana, às vezes lá vinha o Grupo todo, onde o Janita requintava. O Moniz, sempre sorridente. O Júlio Pereira tocava daquilo tudo como só ele. Do norte vinham o Tino Flores e o Manel Freire, com aquele ar de bonzão que sempre teve, carregando a Pedra Filosofal, que todos entoávamos. E, por vezes aparecia como se habitasse outro planeta, o António Macedo; canta, canta, amigo, canta. O Pintinhas trazia um alforge com adufes, era uma alegria. O Cília, era um histórico, aparecia pouco, sempre reservado e o tutelar Zé Mário, sempre muito sério, não apreciava muito aquelas confusões. O GAC era uma festa de alegria, mas só vinha se fosse a UDP a mandar na festa... O Serginho, fiel comunista sempre, contava anedotas e pragas de Olhão nos intervalos…
Todos tocávamos de tudo um pouco – guitarras, percussões, coros. Vivia ainda o MFA.
Como nunca fiz questão de separar as águas, por vezes tocava também com gente da Cantar Abril. O José Jorge Letria, o Barata Moura, o Samuel, o Tordo; o genial Ary, com quem dava abraços de tremer a terra e dar conta dos costados a qualquer um.
Era isto o espírito de Abril.
Depois separamo-nos, cada um foi à sua vida, com projecto próprio. Ou não.
Muitos partiram mesmo; outros foram vítimas das mil mortes que há na vida.
Eu comecei a gravar regularmente e a fazer Concertos por esse país fora. Sempre falei imenso entre canções, das intenções que presidem a cada composição, o caso especifico que determinou aquele trabalho, a história que lhe está associada. Um chato. Talvez porque fui professor numa primeira vida. E só muito a medo larguei uma situação confortável - embora para mim, insustentável – de ordenado certo e prestigiante doutoria efectiva, num velho Liceu de Lisboa. Minha mãe olhou-me cautelosa e disse apenas: -“Vê lá, filho…”
Mas foi. Escolhi aprofundar a música com mais rigor; e as palavras com mais merecimento.
Mas lembro com a memória mais clara de mim mesmo, benjamim nesse bando de alegria e consciência, como era bom ser ainda criança e acreditar tanto no Futuro.
Subíamos ao palco com a alegria do combate. Combatíamos pelo presente, nunca suficientemente socialista; pelas ameaças da reacção, nunca suficientemente controlada e pela continuidade do espírito de Abril, nunca demasiado revolucionário. Temíamos o regresso da censura, do país velho, cinzento, triste e salazarento onde havíamos crescido.
Continuava a ser preciso exorcizar o medo.
O medo se calhar, de admitir como era breve tanto acreditar. O medo de admitir que tantos na sombra, viviam para urdir esquemas sombrios de poder, cupidez e ganância. O Governo, a Banca, as Empresas do Estado, as intervencionadas… Viu-se depois.
E de derrapagem em buraco. De pequena burla a grande fraude, hoje chegámos a isto.
De tantos socialismos, sociais socialismos, centrais socialismos, democrático socialismos, e seja lá como se chame a tudo o que passámos e vivemos. De todas as glórias e angústias e passados. De todas as benesses e enfados. De todos os milhões da CEE. De todas as obras faraónicas. Ao fim de todos os enganos e desmandos de quem nos governou. Ao fim de um cansaço imenso de já não acreditar em nada.
Chegámos ao estado de podridão de tudo o que nos rodeia, mesmo da lendária deusa Europa - que era uma diva loira - hoje podre de feia, chupista e interesseira. E ameaçadoramente exigente, como uma amante passada do prazo, chata, em menopausa financeira, de casaco apertado no peito, mal disposta e falando uma língua difícil.
Arbeit macht Frei , outra vez; só que doutra maneira.
Hoje, estamos aqui, companheiros. Entre o sonho de ternura que nos roubam e o preito de justiça que nos arrancam. Chamam-nos lixo.
Entre a reforma aos 70 anos, ou lá quando decidirem, e as outras mortes de processamento benigno, bondosamente cívica, urbanamente aceitável - compromissos menores de um viver poucamente ambicioso. Hoje aqui estamos; encabulados, estupefactos, roubados e enfiados na desilusão.
Viver aqui e agora, podia ser bem mais que isto que nos dão. Digo eu.
E olho as velhas guitarras que fizeram a revolução neste país; que ainda estão ali, ao alto do armário. Enquanto o peito cava, renascente, uma alma indigna e amarga.
Um sentido de futuro melhor. Onde tudo saiba acontecer de novo, se necessário for.
Em que do lixo que nos chamam nos tornemos gente, de novo, aos olhos do porvir.
E só então sim seremos filhos da madrugada. Merecidamente.
Não daquela, ideal e nobre, eterna, que correspondeu à utopia.
Mas outra, muito urgente também, que um dia rebentará de novo pelas esquinas da cidade.
Pedro Barroso
Autor compositor e músico
Voltar |