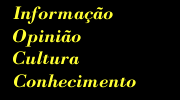| Auschwitz. Depois do horror ainda há espaço para algo pior
30-01-2015 - Diogo Vaz Pinto
A libertação de Auschwitz há 70 anos pelos soviéticos é tida como um ponto final no horror, mas para muitos foram apenas reticências.
Viverão mais este dia cerca de 300 dos 200 mil prisioneiros nazis libertados há 70 anos por tropas do Exército Vermelho soviético. Quase todos com mais de 90 anos, as cerimónias que assinalam esta data estarão entre as últimas oportunidades para ouvir os testemunhos da boca de quem sobreviveu ao maior campo estabelecido pelos alemães. Um imenso complexo 60 quilómetros a oeste de Cracóvia, junto à antiga fronteira germano-polaca, que, além do campo de concentração e dos campos de trabalho forçado, incluía um centro de morte. Em Auschwitz, entre 1940 e 1945, pelo menos 1,1 milhões de pessoas foram mortas.
Actualmente, este local funciona como uma espécie de parque temático recebendo todos os anos à volta de um milhão de visitantes. A maioria sublinha a necessidade de não deixar o tempo apagar a memória do horror que ali foi servido, ao passo que outros criticam aquilo que se terá tornado uma “indústria do Holocausto”, forjando a partir destas paisagens desoladoras e descarnadas uma espécie de museus para a expiação de um pecado sem desculpa. Um pecado inconvertível em consciência ou má consciência. Porque Auschwitz terá sido um dos principais túmulos da humanidade.
Em meados de Janeiro, quando as forças soviéticas se aproximavam do complexo, os guardas das SS deram início à evacuação. Perto de 60 mil prisioneiros foram forçados a marchar em direcção a oeste. Nos dias anteriores tinham-se esforçado por aniquilar tantos quantos podiam nos campos. Num esforço derradeiro para esconder a mecânica do bastião da sua indústria da morte, dezenas de milhares de prisioneiros, judeus na sua maioria, foram levados para a cidade de Wodzislaw, na parte ocidental da Alta Silésia. Os guardas abatiam a tiro os que, sem forças, iam caindo pelo caminho. Sob o castigo do frio, caminhando sobre a neve, e sem alívio para a fome, estas marchas deram cabo de outros 15 mil. Quando os soviéticos entraram em Auschwitz, no dia 27, libertaram pouco mais de 7 mil prisioneiros, a maioria deles muito doentes ou moribundos. De repente, para alguns, foi o fim do mais longo de todos os Invernos. Para outros, o horror viria a sorrir mostrando outros dentes.
Há cinco anos, o historiador britânico Laurence Rees – autor do livro “Os Nazis e a Solução Final”, que escreveu e produziu para a BBC uma série documental com o mesmo título – assinou um artigo para o “Daily Mail” em que relata a experiência da libertação das gémeas Eva e Miriam Mozes Kor.
A meio da noite um enorme estrondo arrancou-as ao sono nos beliches. As chamas subiam ao céu depois de os nazis terem feito explodir os crematórios cheios dos corpos empilhados de centenas de milhares de judeus. Vieram os guardas e mandaram que saíssem das barracas, elas duas e todos os outros gémeos que tinham sido postos de parte em Birkenau. Os SS fizeram-nos marchar os quase dois quilómetros que separavam este campo satélite do de Auschwitz. O historiador nota que já estarem vivos era por si só um milagre, tendo todos servido de cobaias às experiências de Josef Mengele, o médico conhecido como “Todesengel” (O Anjo da Morte). Centrou-se nos gémeos para progredir nos seus estudos de “biologia hereditária”.
Eva foi inoculada com uma doença que o médico queria perceber melhor. Apesar de gravemente afectada, explicou que não se quis deixar morrer sabendo que Mengele só estava à espera para injectar o coração de Miriam, e proceder então às autópsias comparativas.
O tratamento que os guardas davam aos adultos servia igualmente para as crianças. Se lhes faltavam as forças para marchar, eram abatidas e os corpos arrastados para a berma da estrada. Mas, tendo chegado a Auschwitz, Eva lembrou anos mais tarde que de súbito foi tomada pelo ânimo e se pôs a gritar: “Estamos livres, estamos livres.”
Viram os primeiros soldados em roupas que os distinguiam dos seus carrascos. Perceberam que estavam a ser libertadas e, segundo Eva relatou a Laurence Rees, correram para eles e foram abraçadas pelos soviéticos, que entretanto já distribuíam biscoitos e chocolates. “Depois de tamanho abandono, um abraço significa mais do que alguém podia imaginar, porque veio repor o calor humano que tínhamos perdido há muito”, explicou Eva. “Não era apenas a fome do estômago mas a fome de um sinal de bondade humana, e o Exército Vermelho trouxe-nos um pouco disso.”
Os poucos milhares que ainda se aguentavam de pé improvisaram com o pouco de alma que lhes restava um ambiente de celebração. Uns perante os outros, testemunharam o fim de um dos capítulos que, mais que sangrentos, permaneceria na história como um veneno contra a razão, contra a fé na humanidade.
Se a maioria dos sobreviventes do Holocausto foram de facto libertados, a alguns o futuro não contou uma história muito diferente da que já tinham decorado. O testemunho que outros sobreviventes têm para contar não passa por nada que se assemelhe a um final feliz, mas vai do mais completo desrespeito pela vida à pior traição que se possa imaginar.
Laurence Rees refere que a libertação não mereceu grande atenção por parte da imprensa soviética, e que só no dia 2 de Fevereiro surgiu um pequena notícia no “Pravda”. Nada do que se esperaria perante um acontecimento daquela magnitude. Um dos motivos apontados terá sido a própria experiência de horror a que foram sujeitos muitos dos soldados soviéticos que libertaram Auschwitz. Eram farrapos de homens, entrando noutras contas não menos pesadas embora certamente menos lembradas. Para estes, frisa o historiador, Auschwitz era apenas outra roda dentada no relógio de morte que para eles recortava há meses cada hora. Outro factor apontado por Rees é o desejo dos líderes soviéticos de retirar dividendos políticos daqueles campos de extermínio. A propaganda marxista minimizou o sofrimento dos judeus – dos 1,1 milhões mortos em Auschwitz, só 0,1% é a fatia que não pesou para o lado dos judeus –, de forma a reivindicar que aquela mecânica assassina era mais um exemplo do esquema de exploração dos trabalhadores dispensáveis pelo capitalismo fascista.
Assim, para muitos dos libertadores, o que resgatavam não eram as vidas que tinham escapado a um genocídio, mas simplesmente um número de gente que não merecia uma atenção especial. Eva e a irmã viram o melhor dos soldados soviéticos.
Helena Citronova e a sua irmã mais velha viram o pior. Com milhões de pessoas a viajarem pela Europa – alguns para tentarem voltar a casa, outros para escaparem ao vingativo avanço das hordas soviéticas –, muitos dos sobreviventes do Holocausto estavam ainda longe de alcançar a paz. Enquanto isso, Helena e a irmã se arrastavam pelas estradas da Polónia a tentar juntar os passos suficientes para voltarem a casa, na Checoslováquia muitas vezes partilhavam o que quer que servisse de abrigo com outras mulheres, também recém-libertadas dos campos nazis.
Na escuridão, os heróis da sua libertação vagueavam muitas vezes “totalmente bêbados”, e “comportavam-se como animais selvagens”, contou Helena a Rees. Só chegaram a casa e, depois disso, a Israel tendo atravessado uma Europa em ruínas onde os soldados violavam as mulheres, “nalguns casos ao ponto de as matarem, estrangulando-as”.
São as histórias e os crimes que prolongaram o horror no rescaldo da guerra. Não há números, apenas relatos, e uma certa consciência de que o problema certamente não eram os judeus, mas também não eram os alemães ou os soviéticos. No fim destas impossíveis contas, o que é que estes 70 anos não esqueceram já?
Fonte: Jornal i

Voltar |