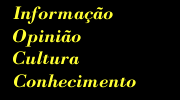| Realismo socialista (e capitalista)
25-03-2016 - Martín Granovsky
Um Castro começou a revolução, e outro Castro enfrenta agora o desafio de administrar uma transição de incorporação gradual à economia de mercado.
O número é 21. Barack Obama e Raúl Castro deram ontem o aperto de mãos mais largo da história. Durou 21 segundos, e se produziu no dia 21 de Março, no começo da primavera boreal. Os dois sorriam como crianças, na primeira visita de um presidente norte-americano não só desde a revolução de 1º de Janeiro de 1959, senão nos últimos 88 anos. Um passo na direcção da normalização das relações? Pode ser, sempre que se tenha em conta uma definição dada pelo diplomata e investigador cubano Francisco López Segrera: “as relações entre Cuba e Estados Unidos nunca foram normais”.
Membro da representação cubana na Argentina em tempos de Raúl Alfonsín, funcionário da Unesco, formador de diplomatas em seu país e autor de 25 livros, López Segrera publicou no ano passado seu trabalho “Cuba – EUA: de inimigos próximos a amigos distantes”, sobre o período entre 1959 e 2015. “Antes de 1959, a ilha era uma neo-colónia dos Estados Unidos, onde o embaixador desse país tinha mais poder que o presidente da nação cubana”, escreveu ele, para explicar sua tese da anormalidade permanente. “Os Estados Unidos via o tema de Cuba mais como um assunto doméstico que como uma relação internacional com um país soberano”. A normalidade consistiria, para López Segrera, em que Washington deixe de perceber Cuba como “um país de soberania limitada” e aceite o mesmo tipo de relações que tem com o Brasil, o Canadá ou a França. Implicaria, portanto, em eliminar o bloqueio e devolver Guantanamo, região no oriente da ilha, onde hoje funciona uma base militar norte-americana.
Nos dias prévios à sua visita, Obama insistiu em apresentar o diferendo com Cuba como um resquício da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A explicação é limitada. A Guerra Fria somente reforçou os problemas mais profundos entre Cuba e Estados Unidos, desde a própria existência de Cuba como país independente da Espanha, em 1898. Como pano de fundo, a sede expansionista norte-americano. O objectivo sempre esteve presente na agenda norte-americana, inclusive no período imediatamente após 1776, e foi se concretizando a medida em que foram sendo anexados os territórios mexicanos, durante a febre do ouro, no Século XIX. O território de Guantanamo está ocupado pelos Estados Unidos desde 1903.
O bloqueio foi imposto em 1960, como resposta à nacionalização de propriedades norte-americanas, e até hoje se mantém vigente. Em 1961, ano em que nasceu Barack Obama, o democrata John Kennedy deu aval para a invasão da Baía dos Porcos, um ataque contra Cuba. A União Soviética caiu em 1991. Foi preciso transcorrer 55 anos desde aquela derrotada invasão, e 25 da implosão soviética, para que outro presidente democrata tivesse a audácia de cruzar os 144 quilómetros que separam os Estados Unidos de Cuba, e se encontrar com um presidente cubano – e um que se chama nada menos que “Castro”.
As relações foram historicamente tão anormais, ou tão normais do ponto de vista colonial, que Calvin Coolidge só visitou Havana em 1928 para uma conferência pan-americana. Nessa ocasião, o diplomata argentino Honorio Pueyrredón, que havia sido chanceler do governo de Hipólito Yrigoyen e era embaixador em Washington na época, disse que “a intervenção diplomática ou armada, permanente ou temporária, atenta contra a independência dos Estados”. O general Augusto Sandino, na Nicarágua, se havia levantado, o que colocava em risco o domínio dos Estados Unidos, que resolveu castigar aquele gesto de independência.
Logo, a visita de Obama não é só a primeira em 88 anos. Mais que isso, se trata da primeira visita de um presidente norte-americano a Cuba com motivos bilaterais. Obama foi a Cuba em nome da relação do seu país com Cuba.
Diminuir a transcendência histórica da viagem seria infantil. Não é a mesma coisa ordenar o desembarque de mercenários na Praia Girón e passear com Michelle Obama pela Velha Havana. Em termos regionais, não é a mesma coisa estimular a guerra civil na Colômbia e a militarização da luta anti-narcotráfico – dois fenómenos que, segundo informações de ontem do canal Telesur, chegaram a produzir cerca de 220 mil mortos, 79 mil desaparecidos e oito milhões de afectados no total, incluindo os camponeses que fugiram da zona rural – e aproveitar a passagem Havana para que o secretário de Estado John Kerry se reúna com representantes das guerrilhas das FARC e do Exército do Povo, como fez ontem.
Outra definição de López Segrera: “Do conjunto de conflitos que Obama enfrenta em sua política exterior – incluindo Oriente Médio, Rússia e outros –, o diferendo com Cuba é o que reúne melhores condições para se obter resultados rápidos e mostrar um sucesso inquestionável”.
Obama, então, uniu o útil ao agradável. E o governo cubano também. Um Castro começou a revolução, e outro Castro enfrenta agora o desafio de cumprir um sonho: administrar uma transição de incorporação gradual da economia de mercado ao estilo vietnamita, e não uma saída sem controlo, como a soviética. Além disso, com sua madrinha económica Venezuela em problemas políticos sérios, assim como seu principal investidor privado, o Brasil, e uma América Latina em processo de regressão conservadora, Castro não tinha porque deixar o mais realista dos presidentes dos Estados Unidos com relação a Cuba desde 1898 com a mão estendida. Nenhum outro presidente, em 118 anos, fez o mesmo cálculo de custos e benefícios, e pronunciou a mesma frase de três palavras que Obama expressou ontem (“Cuba é soberana”) no único país de América Central e do Caribe que se rebelou com êxito contra o mandato colonial.
Tradução: Victor Farinelli
Fonte: Página/12
Voltar |