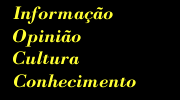08-08-2025
Muitos parceiros comerciais, universidades, escritórios de advocacia e veículos de comunicação dos Estados Unidos firmaram acordos com o governo americano diante de ameaças coercitivas, e muitos outros estão considerando fazê-lo. Mas, sem um Estado de Direito imparcial para estabilizar as expectativas, esses acordos são uma auto ilusão disfarçada de interesse próprio.
O comissário de comércio da União Europeia, Maroš Šefčovič, descreveu o recente acordo comercial EUA-UE em termos crus. Concordar com uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações para os Estados Unidos e prometer comprar US$ 750 bilhões em energia americana ao longo de três anos e investir outros US$ 600 bilhões nos EUA (sem incluir um valor não especificado em encomendas adicionais de equipamentos militares fabricados nos EUA) foi "claramente o melhor acordo que poderíamos conseguir".
Mas será que foi mesmo? Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, não apenas os parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas também suas universidades, escritórios de advocacia e a grande mídia têm se perguntado: vale a pena actuar no teatro do poder nu, ou negociar com Trump simplesmente normaliza a ilegalidade generalizada?
A questão é fundamental, pois não faz sentido falar de transacções "óptimas" – ou de mercados operacionais – em um estado de ilegalidade. Os mercados não podem funcionar sem a estabilidade e a previsibilidade que o Estado de Direito proporciona. Na sua ausência, restam apenas o espectáculo e a coerção.
Negociações confiáveis dependem de duas condições essenciais: boa-fé e um conjunto estável de regras, apoiadas por mecanismos de execução confiáveis, que protejam contra interpretações caprichosas ou revisões unilaterais dos termos do pacto.
A motivação é facilmente disfarçada. Mas se alguém tem um histórico longo o suficiente de dizer uma coisa e fazer outra, a inferência de má-fé é razoável. No caso de Trump, basta lembrar seu histórico de negociações de má-fé, que remonta à construção de seu Cassino Taj Mahal em Atlantic City, onde sua falta de pagamento de US$ 69,5 milhões devidos a 253 subcontratadas levou à falência de muitas pequenas empresas. Casos semelhantes afectaram muitos de seus empreendimentos, incluindo o Trump International Hotel, a Trump Tower, o Trump National Doral Miami, a Trump University, o Trump Shuttle, o Trump Steaks, a Trump Vodka e o Trump Ice.
Embora a reputação de Trump por negociações de má-fé o preceda, desde que retornou ao poder ele se libertou das restrições baseadas em regras destinadas a coibir tal comportamento. Considere seus recentes "acordos" com alguns dos maiores e mais ricos escritórios de advocacia dos EUA. Até o momento, nove escritórios, enfrentando uma série de medidas punitivas – desde a revogação de autorizações de segurança até o impedimento de acessar contratos governamentais e até mesmo prédios governamentais (incluindo tribunais federais) – concordaram em fornecer um total de US$ 940 milhões em serviços jurídicos pro bono para causas pró-Trump. Outros optaram por contestar as ordens executivas coercitivas de Trump na justiça, com quatro obtendo decisões que as bloqueiam ou anulam.
Então, por que nove escritórios, compostos pelos melhores e mais brilhantes advogados dos Estados Unidos, capitularam sem lutar? Sua provável justificativa reflecte uma verdade incómoda: estar do lado certo da lei não é mais suficiente. Muitos dos principais advogados dos Estados Unidos cederam à coerção nua e crua porque concluíram que o governo Trump, tendo subordinado completamente a aplicação da lei federal à vontade do presidente, sempre encontraria uma maneira de puni-los. Em suma, perceberam que não desfrutavam mais das salvaguardas normalmente proporcionadas pelo Estado de Direito.
E esse é o cerne do problema que eles e outros enfrentam em supostas negociações com Trump: os verdadeiros e aspirantes a ditadores desafiam impulsivamente tudo o que os constrange. Já vimos Trump tentar anular a eleição de 2020 após perder no voto popular. Mais tarde, ele pediu o "fim" da Constituição para poder retornar à Casa Branca sem uma nova eleição.
O segundo governo Trump continuou de onde o primeiro parou. Logo após sua posse, ele recorreu a alegações de emergência nacional como base para exercer poder extraordinário. Isso inclui invocar a Lei de Inimigos Estrangeiros, uma lei de 1798 que só pode ser usada em caso de guerra, "invasão" ou "incursão predatória" por um governo estrangeiro. Trump mobilizou a AEA para prender supostos membros da quadrilha venezuelana de tráfico de drogas Tren de Aragua. Mas raciocínio semelhante poderia ser usado para atingir praticamente qualquer pessoa de um país que seja fonte de drogas ilegais ou imigrantes indocumentados.
Da mesma forma, a ordem executiva de Trump que encerra a cidadania automática para aqueles nascidos em território americano contradiz a primeira frase da 14ª Emenda da Constituição dos EUA: “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem”.
Claramente, Trump não se sente limitado nem mesmo pela lei suprema do país. Como se pode esperar que um "acordo" permaneça estável ou seja executável quando se baseia no poder absoluto e não no Estado de Direito?
Muitas das principais universidades dos EUA enfrentam ameaças coercitivas e de legalidade duvidosa – incluindo o congelamento de bilhões de dólares em bolsas e contratos federais e a revogação do status de isenção fiscal de longa data das universidades. Ao decidir se firmam acordos para evitar a ira de Trump, elas enfrentam o mesmo desafio que os parceiros comerciais dos EUA. É melhor pagar o resgate agora e ignorar as implicações de longo prazo, particularmente a probabilidade de novas coerções? Ou deveriam se unir e se recusar a realizar transacções em condições que vulneram os próprios princípios de boa-fé e exequibilidade dos quais depende qualquer acordo devidamente negociado?
Transacções sujeitas a revisões caprichosas e sem mecanismos de execução confiáveis são inúteis. Negociar sem o Estado de Direito para estabilizar o conteúdo e garantir expectativas futuras é auto engano disfarçado de interesse próprio.
Mas mesmo que aceitássemos tais acordos pelo valor de face, seriam eles realmente "o melhor negócio que poderíamos conseguir"? Uma resposta afirmativa pressupõe que a liberdade e a integridade académica, profissional, nacional e individual sejam moedas a serem negociadas como protecção contra perdas financeiras de curto prazo. Nesse caso, nossa disposição para fechar o acordo pode já significar que abrimos mão dos princípios fundamentais que sustentam e justificam os mercados em primeiro lugar.
Richard K. Sherwin
Richard K. Sherwin, professor emérito de Direito na Faculdade de Direito de Nova York, é co-editor (com Danielle Celermajer) de A Cultural History of Law in the Modern Age (Bloomsbury, 2021).