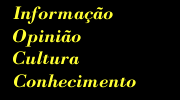| Mário Lúcio: “Os colonizadores foram buscar os cabo-verdianos para capatazes e juízes porque eram mestiços”
04-08-2017 - Jornal I
No palco do FMM2017, no Castelo de Sines, atuou um dos grandes nomes da cultura de Cabo Verde.
Mário Lúcio é uma pessoa luminosa. Aprendeu a ler nas etiquetas dos produtos alimentares. Começou a tocar viola sozinho. Recitava textos de poesia, de cor, nas ruas do Tarrafal. Os pais levaram-no ainda criança para um quartel para que pudessem lidar com tanto génio. Nele misturam-se ideias, histórias, pensamentos, teorias europeias e religiões africanas. A sua música expressa essa capacidade de criar o novo a partir de misturas sucessivas de uma herança que serve de inspiração e se torna uma nova luz. Diz com graça que acredita da mesma maneira na física quântica e nas religiões africanas. Nada do que é transcendente lhe parece estranho.
O poeta português Manuel Gusmão tem um texto em que afirma que a poesia recapitula o mundo com a chama de cada sílaba. A linguagem faz-nos ou somos nós que fazemos a linguagem?
Somos nós que a criamos, mas a língua expressa cada cultura e cada povo. Se no princípio foi a luz, eu imagino que deve ter havido algum estalo, como o som de uma unha, uma espécie de romper de um ovo cósmico. Gosto de pensar que o som tenha sido o primeiro fenómeno deste universo. Ao contrário de Chomsky, eu não acho que nós sejamos predispostos à linguagem. A cultura é que faz a linguagem.
O facto de cantar em crioulo faz com que seja completamente diferente do que se fosse em português, alemão ou inglês, ou é possível cantar o mesmo?
Faz, e ainda bem. A teoria de Chomsky parte do princípio de que há uma base comum a todas as línguas: as recursivas. Mais recentemente, Daniel Everett contestou essa tese dizendo: “Há um povo na Amazónia [pirahã] que não tem recursivas. É um povo que vive no tempo taoista do ‘agora’. Não vivem o passado e o futuro, só o agora.”
No fundo, o que serão as nossas sociedades daqui a pouco.
(Risos) De alguma maneira. O facto de eu cantar em crioulo é muito engraçado, como dizia Umberto Eco e os fanáticos da semiologia. Quando um japonês diz “lua”, eu tenho o termo equivalente em português e em crioulo para dizer “lua”, mas eu não sei o que o japonês pensou ao dizê-lo.
E não terá pensado o mesmo?
Não. Seguramente que não. Basta ver a relação cultural que eles têm com o sol para perceber que a sua ideia de lua é diferente. E nos maias e astecas, o relacionamento que eles têm com o cosmos implica que certamente têm uma ideia diferente da lua em relação a quem vai à escola e aprende que a lua é um astro.
Mas, provavelmente, se Mário Lúcio atuar no Japão, não percebendo o público uma única palavra de crioulo, eles vão perceber e sentir a sua música.
Para isso concorre que a leitura do som é a coisa mais universal e, ao mesmo tempo, a mais particular que há. Todos nós entendemos mas, ao mesmo tempo, cada um de nós o entende de uma forma diferente e pessoal. O mesmo só faz sentir milhares de coisas diferentes. Não só pela força, mas pelo facto de os sons serem símbolos sonoros. E quando eu os oiço, isso reporta-me à minha cultura. Se na cultura cabo-verdiana o tom maior é a alegria, há culturas em que os tons maiores expressam mais tristeza.
Mas a morte e o amor não são algo universal para toda a gente?
O fenómeno abrange todos, mas a interpretação não é igual. Tem o caso dos mexicanos: eles têm a cultura dos mortos, desenterram os mortos periodicamente para fazer a festa e voltar a enterrar. E tem uma cultura crioula, como a minha, em que a morte é um tabu. Alguém diz “morte”, e a gente já se assusta. Deve ter que ver com todas as consequências económicas e sociais que a morte tem nas ilhas, tem um custo económico extraordinário em Cabo Verde. Nós não aceitamos a morte como acontece no continente africano, onde se pensa “morreu, mas o seu espírito permanece entre nós”; nem aceitamos a morte como os europeus, que vão estudar ou ler para o cemitério. Os nossos cemitérios são trancados e ninguém quer entrar.
É a sua cultura? Li numa genial entrevista sua, ao Carlos Vaz Marques, que acredita tanto na visão espiritual dos iorubá como na física quântica.
Isso já é uma experiência pessoal. Dentro da minha cultura eu sou, digamos, um fractal, e vou vivendo da minha cultura insatisfeito com as respostas que me vai dando, à medida que faço o meu caminho. Vou procurando respostas em culturas antigas ou noutras mais recentes que se estão a consolidar, como a cultura crioula – tudo formas de eu me estabilizar, encontrar a paz e a felicidade. Por exemplo, a maior parte da cultura cabo-verdiana é católica, mas eu tinha uma grande questão sobre a ressurreição de Cristo. Assim também como quando eu comecei a estudar o budismo, muito feliz e contente, até que dei comigo a pensar que “esta história da reencarnação não me satisfaz”, até que fui encontrar outra explicação mais satisfatória, para entender as coisas, ao taoismo. Aplaudo as multiplicidades religiosas: elas são a interpretação de uma ideia de Deus. Pode haver uma só ideia de Deus, mas há milhares de interpretações de caminhos para essa ideia. Então, na cultura de Cabo Verde, eu, por experiência própria por ter vivido no meio de mortes – tenho avó, pai, mãe, irmãos e filho falecidos -, tenho uma grande cultura do tratamento da morte. Mas, como cabo-verdiano, sempre recusei ver um morto. Porque não acreditava que um ser humano se pudesse transformar em coisa nenhuma.
O primeiro morto que o assombrou foi o seu primo, que aprendeu como o Mário Lúcio a ler nas embalagens da margarina e nos frascos de banha, que foi atropelado por uma camioneta à sua frente?
Foi. Mas não cheguei a ver. Imagine que no Tarrafal havia dois carros: um do Estado e um camião. Em todo o Tarrafal. Num azar do mais cósmico possível no momento em que nós dois íamos a atravessar a estrada, ele foi apanhado pelo único camião que existia na vila. Eu atravessei a estrada, ouvi um estrondo e um choro, e não voltei para trás. O primeiro morto que vi e que tive de aceitar foi uma história que Deus colocou no meu caminho para me dizer: “É hoje.” Estava com o Quim Alves a fazer o meu primeiro disco e, de repente, bateram à porta do estúdio e disseram: “A tia-avó está a morrer.” Desci. O que é que eu faço? Coloco-a no meu carro, um Renault 4 velhíssimo, o carro só dava 40 a 60, e lá conseguimos chegar ao hospital. Peguei a senhora, muito franzina, ao colo, levei-a e coloquei-a na maca, e de repente ela morreu. E eu pensei, na altura: “Muito bem, cosmos, era isso que queria para mim? Já vi.” Fiquei naquele momento com aquela estrutura molecular que tinha tido, segundos antes, vida própria: podia amar e matar. E naquele momento ela já não era nada disso. Já não podia fazer nada, muito menos eu. Foi a primeira vez que vi um morto.
Os mortos são também memória dos vivos. O primeiro poema que viu – retirou do bolso das calças do seu irmão mais velho – era-lhe dedicado e a primeira banda que formou tinha o seu nome de guerra. Porquê essa importância para si de Amílcar Cabral?
A minha vida é assim. Há um irmão meu que diz: “Mário, tu escreveste um filme e entraste nele.” Agora escrevi um livro – não gosto de falar de coisas que não saíram – em que abordo isso. Quando eu apanhava coisas nos bolsos do meu irmão é porque eu tinha um chamamento para as coisas, para a leitura, para o fenómeno do belo. Esse poema de Manuel Braga Tavares, poeta cabo-verdiano que faleceu há poucos anos na Holanda, falava de “Kabral ka more”. Foi o poema que mudou a minha vida. Quando eu fundei a minha primeira banda musical no Tarrafal demos-lhe o nome de Abel Djassi, que era o nome de guerra de Amílcar Cabral, e quando eu fui estudar na Praia já havia outro grupo chamado Abel Djassi. E quatro desses membros, que estão agora a tocar comigo, ouviram falar de um rapaz que tocava no Tarrafal, numa banda com o mesmo nome, e falaram comigo. É uma grande coincidência, uma coincidência que teve influência. Eu fiz uma leitura de um livro sobre Amílcar Cabral, de Mário de Andrade, exatamente pelo lado espiritual. E, no final, o Pedro Pires veio ter comigo e disse-me: “Isto deve dar um livro. É a primeira vez que vejo falar de Amílcar Cabral simplesmente como pessoa.” E acrescentou: “Como alguém que tinha uma grande cultura espiritual, mas que não revelava.” Eu confessei: “Sinto isso.” E Pedro Pires retorquiu–me: “Ele era espírita.”
Era mesmo?
Segundo disse Pedro Pires. Não sei, mas parece que terá frequentado o centro redentor do Mindelo algumas vezes. Nesta interpretação que eu fiz dele, eu sempre tentava perceber como é que ele passou espiritualmente e interiormente para aceitar a luta armada, a guerra e a morte.
Diz o homem que tinha uma arma aos dez anos de idade…
Eu? (risos) Eu era o recruta número 131. Em 1975 já ia a caminho de completar os 11 anos de idade, era muito dextro, e então já tinha a minha arma, AK-47, aos dez anos de idade.
Quando foi parar a Cuba para estudar Direito? Não parece curso para si.
Foi uma história muito simples. Quando fui estudar para a Praia, o meu pai tinha morrido três anos antes, a 10 de dezembro de 1976, a mesma data em que faleceu há dois anos um meu irmão. E no dia em que fui para a Praia estudar faleceu a minha mãe, Zita de Sousa, em 1979.
Disse numa entrevista que dois dos seus 31 irmãos estão já falecidos….
Não, já estão mais. Dos 30 e tal irmãos, já tenho dez ou 12 falecidos. Nessa altura, o governo de Cabo Verde dava bolsas para os melhores alunos, e se a média fosse excecional, 19 ou 20, o governo dava o direito de escolher o curso que se quisesse e o país.
E não escolheu Física Quântica mas Direito, em Cuba.
Escolho Direito porque sempre queria estudar a literatura. Engraçado que tem muita ligação, há muitos escritores que estudaram Direito, como o Gabriel García Márquez e o Vargas Llosa. A minha atração era o latim. Foi muito importante para mim. Até hoje, quando leio ou falo línguas estrangeiras, sempre que tenho dúvidas vou à raiz latina; se não encontro, vou à raiz grega. Isso ajuda-me muito. Na altura, o único curso que tinha Latim, no liceu como na universidade, era o de Direito. Mas também tem muito que ver comigo: sou do signo Balança, gosto muito da equidade e da justiça. Quando chegou a hora de escolher, eu disse: “Quero ir para Cuba.” Estranharam porque os outros criam ir para os EUA, França, Austrália e esse tipo de países. Mas Cuba era o meu universo, por causa dos militares cabo-verdianos que se tinham formado lá para virem fazer a revolução em Cabo Verde. Quando eu fui viver em quartéis, já lá estavam uma parte desses militares que tinham vindo de Cuba, e dois anos depois chegaram outros que tinham vindo de lá. Por causa disso, a minha vivência levou-me a ir para lá.
A sua ligação ao sincretismo religioso, embora esteja com a roupa errada [Mário Lúcio veste-se sempre de branco, que é a cor de Obatalá, mas disseram-lhe que ele é “filho” de Iemanjá, cujas cores são azul e branco, como o colar que traz ao pescoço], começa em Cuba?
É em Cuba que isso começa, embora as religiões sempre me tenham fascinado. Considero-me um estudioso compulsivo de todas as religiões. Já me embrenhei muito no hinduísmo, estudei muito o taoismo, estudei profundamente o cristianismo…
E o materialismo dialético?
(Risos) Isso foi a minha base. Tenho cinco anos de materialismo dialético e de marxismo-leninismo estudados em Cuba. Descobri cedo que há uma religião que me fascina: a religião iorubá. É das poucas, a única que eu saiba, que fala de energias. Utiliza a ideia de energia material para fazer religião. Enquanto no hinduísmo se fala de energia espiritual quando se fala de um espírito que se manifestou, no iorubá é diferente. Os meus amigos perguntam-me às vezes: “Acreditas que um colar te pode salvar de alguma coisa?” [aponta para o colar ao pescoço]
Esse é dedicado a Iemanjá?
A Iemanjá. “Não é questão de salvar”, respondo-lhes eu, “é uma questão de energia boa.” “Coloca-se energia no colar?”, contrapõem os meus amigos. Nessa altura eu explico-lhes, vou dar um exemplo, [retira um cartão de memória do telemóvel], se há uns anos eu pegasse nisso e dissesse “toma como oferta”, tu responderias, “estás a brincar comigo”. Mas aqui estão 30 megas de músicas, duas mil fotografias e 40 vídeos. E o que é isto? São energias. O iorubá era isso que pensava há dois mil anos: no papel das energias a circular.
Deixe-me fazer de advogado do diabo. Há muitos anos estive em Cuba e vi um babalaô da religião iorubá a receber uma pessoa. Essa pessoa tirou os sapatos e subiu ao quarto: um cheiro nauseabundo. O babalaô tirou os búzios e leu o resultado e disse: “Tens um problema nos pés.” O que era verdade, mas eu já tinha chegado a essa conclusão. (risos)
Os babalaôs são uma espécie de adivinhos dentro do sistema da religião iorubá. Mas assim como há técnicas para colocar energias e informações em chips, há pessoa que conseguem ler essas energias e colocá-las em pessoas e suportes, é basicamente isso.
O sincretismo religioso tem algum paralelismo com a música crioula: o sincretismo religioso usava os santos católicos para esconder os deuses africanos e a música crioula usa os instrumentos europeus, como o violino, para expressar uma nova identidade?
Cabo Verde tem uma particularidade muito engraçada que tem reflexos até na sua democracia. Isso tem que ver com o facto de um povo que não deveria existir começar a existir e reinventar e criar uma identidade para poder resistir. Anteriormente, na Grécia e no Egito, havia escravatura, mas era sempre em posições verticais, até que numa ilha nasce uma realidade diferente, a herança da escravatura é horizontal: somos todos filhos de escravos e de soldados e marinheiros portugueses. Aí nos encontramos a dizer: “Quem é que eu vou matar nessa história? O preto? Aí vou matar a minha mãe. O branco? Aí vou matar o meu pai.” Nós não escolhemos os nossos pais. Cabo Verde é das raras colónias na história da humanidade que cedo começou a ter administradores, chefes de posto, polícias, fiscais nascidos na terra.
Também porque eram usados como capatazes noutras regiões pelo colonizador.
Antes disso. Porque o pai branco tentava colocar o seu filho no melhor lugar possível. Tinha essa prerrogativa. A mãe continuava como escrava doméstica, mas o filho tinha de ir para a escola. Essa novidade criou, junto às outras administrações coloniais, uma novidade: um intermediário em Angola e Moçambique, onde já não havia esse fenómeno de crioulização generalizada. Havia a população negra e os brancos, que eram minoritários mas dominantes. Os colonizadores vão buscar os cabo-verdianos para capatazes, juízes, professores. Porquê? Porque eram mestiços. Podiam comunicar com a população negra, mas também tinham ascendentes brancos.
Isso não enforma a música cabo-verdiana? Por exemplo, no funaná, algumas coisas vêm de Trás-os-Montes mas são completamente transformadas.
A cultura tem reflexos disso, ela expressa muito da forma como vemos o mundo. Muito cedo, nós conseguimos criar uma zona de harmonização dos nossos dilemas: Imaginemos uma criança que nasce em 1466. Quando estamos em 1492, quando Cuba foi descoberta, já havia escravos nascidos nas ilhas de Cabo Verde. Eram escravos ladinos, eram batizados e eram mais caros. E foram esses que foram para Cartagena das Índias, para o Brasil e para todo o lado. Esses escravos, quando nasceram, devem ter dito: “Eu não acredito que Deus tenha reservado isso para nós. Em que continente é que eu estou? Não estou no africano, não estou no europeu, não estou no continente americano. Estamos numas ilhas tão perto de Lisboa como de Dakar ou de Fortaleza.” E depois deviam pensar: “Que cor é esta cor que tenho? Não sou tão branco como o meu pai, mas também não sou tão preto como a minha mãe.”
E essa identidade foi construída com base em quê?
Com a música, seguramente. Mas tudo começou também nas dúvidas: “Que língua devo falar? As línguas africanas da minha mãe ou o português do meu pai?”
E aí nasce o crioulo?
Nasce o crioulo. Primeiro foram esses dilemas, que depois continuaram pela música: “Que instrumentos tocar? O violino que o meu pai carregou da Europa ou os tambores africanos da minha mãe e dos seus pais?”. Perante essas perguntas insolúveis, a solução foi juntar: juntou o português e as línguas africanas no crioulo, juntou os instrumentos africanos e europeus na música cabo-verdiana. Nós vivemos de juntar.
Ok, essa explicação é compatível com o materialismo histórico. Mas numa entrevista afirmou que a música lhe aparecia na cabeça como uma espécie de inspiração divina. Como é que faz coexistir essas duas explicações?
É uma experiência pessoal. Mas quando chega essa inspiração pessoal já há a imersão na língua crioula e na história das gentes. Esse processo histórico demorou menos de dois séculos. Crioulos que os espanhóis diziam “criojos”, que vinham das “crias”, que não eram nem seres humanos nem bestas. No século xvi começa haver uma aceitação com os primeiros moradores, porque era preciso gente para acarretar águas e trabalhar. Até chegar a 1700, em que começa a estabelecer-se uma identidade. No século xx, quando as músicas descem, como inspiração, já descem depois de tudo isso ter sido estabelecido.
Quando aparece o Badyo e o vadio, esse crioulo rebelde?
Amílcar Cabral foi muito inteligente ao dizer que a rebeldia é um ato de cultura. Eu escrevi um texto há muitos anos a dizer que um império colonial gerou o seu próprio assassino. Não veio nenhuma potência de fora combater o império português. No caso de Cabo Verde, foram os próprios. Isso acontece quando você sente, no seu interior, que não merece ser dominado e tratado como de outra categoria, e que não aceita uma integração forçada, porque isso não é liberdade, embora já não seja escravo. Lancei no Brasil um livro sobre a “crioulização” do mundo em que chego a essa ideia de que não há apologias, mas partilhas. Nós somos também o outro. Para odiar e amar – não se pode odiar o espelho -, é preciso criar esse outro. Ninguém vive sozinho. É preciso, muito cedo, criar uma cultura de onde está o outro que me completa. Há uma música minha no disco “Kriolo”, chamada “Amizade”, que diz exatamente isso: “Eu em mim não dá um dueto/ mesmo que me partas pelo meio/ vai ficar a faltar/ a madre, o riso e a sedução/ que são magias que só acontecem entre dois.” É isso que faz a nossa cultura. Precisa do outro. Se disser “a partir de hoje, quem tem ascendência portuguesa sai das ilhas”, vai-se embora todo o mundo. Se disser o mesmo para quem tem ascendência africana, não fica ninguém. O mesmo acontece com a música: se tirarmos os instrumentos europeus ou os africanos, ficamos sem a nossa música. É um bom exemplo da humanidade, em que há a impossibilidade de retirar as partes, porque todas elas têm o mesmo grau de importância.
Contrariou a famosa 11.a tese sobre Feuerbach ao defender que a arte da política é a inação. Porque não é também a transformação?
Não contrariei. Na transformação há muita inação. Há uma enorme diferença entre saber não fazer nada e não saber fazer nada. É muito importante numa grande transformação saber do não saber, como diz Lu Tsu, do que não saber do saber. Então é muito importante perceber que a política é a ação de per si. Se você acelerar, bate com a cabeça na parede. Deixar que as coisas fluam e ouvir os outros. Você não deve ser mais que o catalisador. As coisas acontecem apesar de você. Isso ajudou-me a fiscalizar [Mário Lúcio foi ministro da Cultura]. Não é preciso nenhuma ação individualista na política porque a ação é social, cultural e relacional. Praticar a inação é diferente de ser inativo.
Entrevista de Nuno Ramos de Almeida, publicada no nosso parceiro jornal i
Fotografia de Diana Tinoco
Voltar |