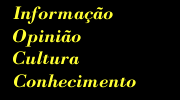| O Vento Assobiando nas Gruas, entrevista com Jeanne Waltz
01-03-2024 - Manuel Halpern
O Vento Assobiando nas Gruas, adaptação do romance homónimo de Lídia Jorge, publicado em 2002, conhece agora a sua versão cinematográfica, numa adaptação da luso-suíça Jeanne Waltz. Uma história de luta de classes num Algarve gentrificado, a lidar com as cinzas do 25 de Abril
Para escrever O Vento Assobiando nas Gruas, Lídia Jorge inspirou-se numa história real do Algarve pós-25 de Abril, em que, após várias voltas, os reajustes sociais vão dar à velha ordem: os ricos continuam ricos e os pobres continuam pobres. Esta é uma ideia que fica marcada no filme de Jeanne Waltz, que é fiel ao livro na sua essência, transformando-o num ótimo objeto cinematográfico. O filme conta com a interpretação visceral de Rita Cabaço e um elenco luso-cabo-verdiano, que inclui a participação de Dino Santiago, a figura do momento da música portuguesa cabo-verdiana, natural de Quarteira.
Pretende partilhar este texto? Utilize as ferramentas de partilha que encontra na página de artigo.
Todos os conteúdos da VISÃO são protegidos por Direitos de Autor ao abrigo da legislação portuguesa. Apoie o jornalismo de qualidade, não partilhe violando Direitos de Autor.
Jeanne Waltz nasceu em 1962, na Basileia, na Suíça. Vive em Portugal, desde 1989, trabalhando primeiro como decoradora, depois como argumentista e realizadora. Colaborou com realizadores como Joaquim Pinto, Paulo Rocha, Manuel Mozos e José Álvaro de Morais. Realizou várias curtas, bem como as longas Daqui p’ra Alegria e Nada Meiga.
JL: Porque resolveu adaptar o romance O Vento Assobiando nas Gruas ?
Jeanne Waltz: É um projeto que tenho há muito tempo. É um livro extraordinário, o melhor que li da Lídia Jorge. Tem uma personagem incrível e várias camadas de história. A história do Algarve, das conserveiras, das diferenças de classes em Portugal, do colonialismo e pós-colonialismo, do boom do turismo. Todas estas coisas que interagem umas com as outras. Quando se adapta um romance é sempre preciso cortar, mas o grande trabalho do guião foi, tentar não perder estas dimensões, deixar que as coisas fiquem ali sempre. Alguém que goste muito do livro nunca vai ficar completamente feliz com o filme, irá sempre achar que falta, coisas, mas foi um trabalho muito estimulante.
Qual foi o teu método? Acabaste inevitavelmente por esquecer?
Isso quase que aconteceu. Não consegui financiamento quando submeti o projeto pela primeira vez e acabei por fazer o filme quase 10 anos depois. Nunca mais reli o livro. Por isso às vezes passo por situações um pouco constrangedoras, quando me diz que aquela cena está diferente e eu não sei o que responder.
Há partes do livro que não estão no filme, nem poderia ser de outra forma. Mas também há partes do filme que não estão no livro?
Sim, há algumas. Sobretudo pela necessidade de trazer o filme um pouco mais para os dias de hoje. Em particular, as relações raciais, que no livro me pareciam mais datadas.
Tal com na tua outra longa de ficção, Nada Meiga, tens aqui uma personagem feminina e um pouco fora deste mundo. É uma característica tua?
Talvez sim. Mas já decidi que a personagem principal do próximo filme será masculina. E fora deste mundo, talvez porque a margem seja sempre mais interessante do que a norma. Mas, atenção, esta é mesmo uma personagem da Lídia Jorge, Claro que fui eu a interessar-me por ela, mas foi a Lídia que a criou.
Uma personagem que envolve um trabalho extraordinário com a Rita Cabaço. Como se desenrolou?
Fizemos algum trabalho juntas, mas depois ela dedicou-se. Ela é mesmo muito trabalhadora, construiu muito bem a personagem.
É um registo que obriga a uma grande liberdade de interpretação, mas ao mesmo temo haverá a preocupação de se manter fiel ao livro… como isto se tudo se conjugou?
A Lídia deu-me a liberdade total. Conhecemo-nos, confessou-se muito curiosa, mas nunca pediu para ler o guião, nem nunca exigiu nada. Com a Rita houve uma aproximação à sua personagem. A personagem social com a sua classe, educada pela sua avó, com uma moral muito própria que se debruça sobre os corpos das mulheres, que se dá mais ainda nas classes superiores, provocando um espartilho muito grande. Diz-se sem que ela tem os joelhos muito fechados. Ao lado disso, a sua falta de consciência, a diferença que a torna completamente livre. O desafio foi trabalhar estas diferenças sem fazer com que ela se torne uma coitadinha ou uma atrasadinha, mas antes uma pessoa completamente sui generis.
Também não é uma boa selvagem…
Ela é uma selvagem, mas não muito boa.
O filme tem várias camadas, mas o preconceito sobre a classe social supera aqui o do racismo…
Sem dúvida, é muito brutal. Aconteceu algo estranho. A família dos brancos ricos está muito amargurada, porque está a perder o dinheiro e o poder. O retrato deles é estilizado, não completamente realista, e credível. Isso torna-os um pouco uniformes, funcionam como um bloco. Ao retratá-los não tive medo de cair em estereótipos. Pelo contrário, na família negra quis ir contra os estereótipos, dando-lhe força. Isso fez com se individualizassem, e se tornassem mais humanos.
Como foi descobrir a História do pós-25 de Abril no Algarve?
Poderia ter feito uma série completa com a parte Algarvia. A casa do conserveiro mais rico é agora a casa do bispado de Faro. É um palácio inimaginável, onde vive o cónego sozinho. Estas fábricas têm estas histórias todas. A tecnologia revolucionárias mudou aquele universo. Antes as conservas eram mandadas para o mundo inteiro. Em Vila Real há um museu das conserveiras, com uma grande coleção, há um momento em que pensei usar isso no início, que era estilizada demais para o filme que queria fazer.
O filme tem a difícil capacidade de criar universos…
A fábrica onde foi filmado é a mesma que a Lídia visitou quando começou a escrever o livro no início dos anos 90. Está completamente em ruínas. Tivemos sorte por causa do Covid. A fábrica estava a ser vendida, a promessa de compra e venda assinada, mas ainda assim os proprietários deixaram-nos filmar. Era um ecoturismo alemão, mas não conseguira, avançar na altura, devido à pandemia. A outra casa é do Raul Lino, estava abandonada há 20 anos, mas tinha sido comprada por uns suecos. E nós conseguimos convencê-los a deixarem-nos filmar antes de começarem as obras.
São cenários incríveis…
Mas a esse nível há uma coisa importante. Antes de escrever guiões e de ser realizadora, eu trabalhava em decoração. E trabalhava muito com um decorador português chamado Luís Monteiro, que tinha feito muita coisa em cinema e depois o deixou por falta de tempo. Cada vez quer fazia um filme, ligava-lhe. Ele dizia que não podia, porque tinha uma família grande para sustentar e o cinema não dava dinheiro. Quando comecei este filme liguei-lhe novamente e ele finalmente respondeu: “O meu filho mais novo já saiu de casa, por isso posso trabalhar contigo”. Foi o primeiro filme em que ele teve meses para trabalhar sobre uma coisa, e criou esta fábrica, que não passava de uma ruína. Sem ele e sem o guarda-roupa, o filme não teria este mundo visual.
Além disso, há um mundo cabo-verdiano no Algarve. Fizeste essa investigação?
Não fui às comunidades urbanas. Sei que há uma grande em Quarteira, de onde vem o Dino Santiago. Visitei apenas algumas casas. Baseei-me mesmo em Cabo Verde. É um sítio tão incrível que quis fazer daquilo um mini Cabo Verde.
A música está muito presente no filme. Como selecionaste as canções da banda sonora?
A música é toda diagética, a não ser a do genérico. O “Girls wanna have fun” está no próprio livro. Achei que não íamos conseguir os direitos, por ser caro demais. Mas mal soube que era possível, pedi ao Dino Santiago para fazer um cover acababoverdianizado para o filme. Ele disse que sim. Depois, fui ouvindo, perguntando às pessoas, abrir possibilidades, e finalmente escolhi. Havia uma seleção feita antes da montagem, mas depois ainda fiz modificações.
O filme é também uma história de amor invulgar com o final demasiado pragmático…
Um desfecho que noutro filme poderia ser feliz, mas aqui é demasiado pragmático. O filme não acaba bem, mas acaba com esperança. O livro acaba pior. Mas não podia fazer isso às personagens.
Encontras pontos em comum com Nada Meiga?
Não muitos. Sou sempre eu, por isso há de haver. Fiz uma absoluta descoberta neste filme, foi perceber que trabalhar numa adaptação traz-me muita liberdade. O meu trabalho era fazer o melhor que pudesse com aquilo.
Há uma outra adaptação de um livro de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios, pela Margarida Cardoso. Mas são contextos e universos muito diferentes…
O filme da Margarida é muito distante. Nem pensei nele. Eu nunca sei dizer uma referência para este filme. Claro que todos nós temos referência, porque de tudo o que vimos muitas coisas cá ficam. Mas não sei dizer um filme. O que me inspirou muito foram os pássaros. Filmámos numa reserva ornitóloga. E existe uma base de dados na Internet de gravações de sons de pássaros. E elas são utilizáveis. Por isso enchemos o filme de pássaros.
E agora? Qual será o teu próximo filme?
Fiz um mestrado em animação, porque junta duas coisas que amo: o desenho e o cinema. Então, estou a preparar uma longa de animação, que se estica ao longo de 100 anos, que tema ver com barcos e raiva. Tenho ainda a alguma dificuldade em falar bem deste projeto. Começa de um lado quase documental em Lisboa, num barco, cheio de jovens, e acaba em ficção científica. Tem a ver com amizade, e de como a cólera pode ser usada de forma positiva, para nos fazer agir e mudar as nossas vidas.
Fonte: Visão/Jornal de Letras
Voltar |