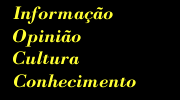| Vietname, batendo em retirada: a debandada de Saigão
17-10-2014 - Léa Maria Aarão Reis
'Quem vai, quem fica?' era o dilema que a todo instante exigia decisão rápida na fuga do Vietname retratada no filme 'Last days in Vietnam', de Rory Kennedy.
Era fim de Abril de 1975 e a foto explodiu na media planetária. Até hoje é lembrada: um helicóptero parado no ar embarcando à pressa dezenas de americanos e vietnamitas do Sul tentando fugir, em fila, na escada de acesso ao terraço de um prédio em Saigão. Emblema da derrota dos EUA no Vietname, a imagem é o melhor símbolo da debandada do final da “guerra americana” – como os vietnamitas, hoje, se referem a uma das mais cruéis e desiguais conflagrações do século passado. Para eles, também chamada de “guerra da reunificação.”
Vietname: batendo em retirada (Last days in Vietnam/2013), documentário de Rory Kennedy, uma das filhas de Robert e Ethel Kennedy, estreou no Festival de Sundance, em Fevereiro, e foi apresentado pela primeira vez, mês passado, em algumas cidades americanas.
Acabou de ser exibido no Festival do Rio e mostra a imagem daquela cena histórica, mas com a correcção: o prédio não é um anexo da embaixada dos Estados Unidos como se acreditava, mas o edifício onde trabalhava o chefe da secção da CIA, em Cholon, hoje um bairro popular da cidade de Ho Chi Minh, conhecido pela gigantesca feira popular e onde se concentra a colónia chinesa.
Com certeza, o filme da filha de Bob Kennedy não mostra outra imagem emblemática do conflito que, segundo o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, matou 58 mil soldados americanos. O governo de Hanói declara mortos três milhões de cidadãos do país durante o período.
Não se vê no doc, por exemplo, a foto ícone ganhador do Pulitzer, Nick Ut: a menina nua correndo por uma estrada sendo bombardeada depois de atingida por napalm. O original da fotografia encontra-se no Museu da Guerra, de Saigão, ao lado de outra, da mesma garota então adulta, com o filho no colo e mostrando as costas definitivamente deformadas pelas queimaduras.
Este filme de Kennedy, documento histórico, é fascinante porque traz imagens impressionantes do pânico que tomou conta das ruas da capital do sul de um país que se tentava separar em dois, como a Coreia, quando, em Março de 75, começou a grande ofensiva do Tet pelas tropas que vinham do norte, do legendário general Giap, falecido aos 102 anos, há um ano, em Hanói, onde morava.
Trata-se de uma compilação muito bem montada, com ritmo perfeito. Consegue um suspense agudo com os vários filmes realizados por realizadores independentes ou de agências e por militares que viveram os dias do salve-se quem puder e confrontados com entrevistas raras.
O tema é concentrado nos esforços semi-clandestinos, individuais, não autorizados por Gerald Ford nem por Kissinger, até o último minuto da derrocada, para evacuar o que fosse possível da população, naquele momento, à pressa, além dos cerca de seis mil norte-americanos lá estacionados. Funcionários do Departamento de Estado, da CIA, forças armadas e proprietários e empregados em empresas americanas, e mais alguns milhares de vietnamitas que com eles trabalharam e estavam por demais comprometidos com os estrangeiros.
Nesses momentos finais, o documentário mostra o noticiário que chega sem cessar anunciando a conquista da cidade imperial de Hué, no paralelo 17, pelo exército dos vietcongues e a retirada das forças armadas dos estados unidos da vizinha e legendária base de Da Nang cujas ruínas, hoje, são uma atracção turística e estendem-se por dezenas de quilómetros ao longo da praia local.
São entrevistados, além de Kissinger, oficiais vietnamitas que lutavam contra os vietcongues, militares americanos e diplomatas, e há declarações de época do último embaixador dos EUA no país, Graham Martin, cujo filho morreu nessa guerra, recusando-se a autorizar uma evacuação oficial.
'Quem vai, quem fica?' era o dilema que a todo instante exigia decisão rápida, ao som contínuo de uma gravação de Bing Crosby cantando White Christmas na rádio local.
Cercando o complexo de edifícios da embaixada dos Estados Unidos, em torno de dez mil cidadãos vietnamitas, diz o filme, homens, mulheres e suas famílias, idosos e crianças forçavam a entrada protegida com rolos de arame farpado. Tentavam lugar num dos helicópteros que pousavam no terraço, sem parar, em idas e vindas, dia e noite, e descarregavam os fugitivos em navios e porta-aviões próximos da costa.
Insinua-se em Last days in Vietnam que o governo norte-americano teria “apunhalado pelas costas os vietnamitas do Sul” ao não ter autorizado e organizado uma retirada digna e mais segura como por exemplo através dos barcos ancorados nas docas do Rio Saigão – hoje transformadas em decks com sedutores anúncios luminosos coloridos de algumas das grandes marcas japoneses, e repletas de restaurantes procurados pelos visitantes.
Bem próximo do rio, naqueles dias da debanda, porém, centenas de vietcongues protegidos pela inacreditável rede de túneis – cu chi – (outra atracção turística actual) -, que serpenteava por baixo das florestas nas cercanias da cidade, se infiltravam pelas ruas de Saigão. Hoje, a localidade é conhecida como Parque da Defesa.
O doc tem outro ponto de vista dos últimos dias (para os norte-americanos) no país. Eram os primeiros para o país reunificado.
Ele mostra que na noite de 29 de Abril, depois do embaixador Martin se retirar, cento e setenta indivíduos vietnamitas ainda esperaram durante horas, silenciosos, exaustos e sem muita esperança de serem resgatados, adormecidos nos jardins pisados da embaixada norte-americana, por um último helicóptero que descolou às oito da noite e não reapareceu para apanhá-los.
Trinta anos depois dos dias dramáticos mostrados nesse registo histórico importante, em 2006 – o espaço de apenas uma geração – a economia do Vietname crescia a 8% ao ano. Recebia 3 milhões e 300 mil turistas em um ano – hoje, muito mais. A terra arrasada pelos bombardeios B-25 foi saneada embora o país quase tenha voltado à "idade da pedra" como prometeu fazê-lo, nos anos 60, o general Westmoreland então chefe das forças americanas na guerra. Nas ruas da capital Hanói, oito anos atrás, ainda se via com frequência homens e mulheres aleijados. Vítimas civis do napalm, do agente laranja e das minas.
Na bela e cosmopolita cidade rebaptizada de Ho Chi Minh, turistas deixam hoje as salas do Museu da Guerra, no Centro, com lágrimas nos olhos, depois de conhecerem os originais das terríveis fotos de Robert Capa, morto no Camboja, e da tal imagem da menina queimada, de Nick Ut – um dos ‘efeitos colaterais’ replicados hoje no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão e agora na Síria.
O filme de Rory Kennedy deve ser visto. É mais que oportuno.

Voltar |